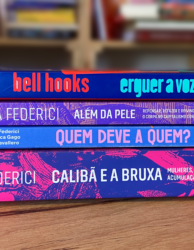Por Tatiane Klein
Especial para Editora Elefante
O antropólogo Bruno Martins Morais era advogado quando decidiu fazer um estudo sobre os atores contrários às demarcações das terras dos Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva no Mato Grosso do Sul. Seus planos mudaram radicalmente ao chegar às retomadas, áreas ocupadas pelos Guarani na luta pela recuperação de seus tekoha, “lugar em que se pode ser”.
Atento aos discursos sobre a violência e as mortes causadas por ataques de pistoleiros, empresas de segurança privada e latifundiários, Bruno se dedicou a compreender a perspectiva dos Kaiowá sobre os mortos — e sobre a morte — no contexto de luta pela terra. O resultado é o livro Do corpo ao pó: crônicas da territorialidade kaiowá e guarani nas adjacências da morte, premiado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) e lançado em novembro pela Editora Elefante.
Nesta entrevista, Bruno refaz as perguntas que direcionaram seu trabalho de campo e relembra as lições que tirou da convivência com os Kaiowá: “Meu livro é uma denúncia, mas uma denúncia esperançosa. Demonstra que é trágico o que os Kaiowá estão vivendo, mas que precisamos de muito pouco para refundar o mundo: coragem e sensibilidade”.
Confira:
De início você queria pesquisar empresas de segurança privada, fazendeiros, sindicatos rurais, e acabou nas retomadas de terras. Qual é o diferencial da pesquisa que você acabou fazendo?
Fazer uma etnografia do sistema de segurança do agronegócio — que eu chamava de sistema de vigilância territorial — seria interessante, se fosse possível e se a conjuntura tivesse ajudado, pois possibilitaria descrever um olhar a partir do ponto de vista dos fazendeiros e de quem gere esse sistema de segurança. Por outro lado, creio que teria produzido uma narrativa permeada de fontes e de uma linguagem policial: uma linguagem de Estado.
 Essa é a grande diferença. O que eu tento mostrar em Do corpo ao pó é que existem registros diferentes de linguagem para as coisas, e existem palavras que são pontos de encontro semântico desses registros. O meu trabalho foi tentar explorar esse outro lado: a capacidade que os índios têm de multiplicar sentidos nas palavras que a sociedade nacional e o Estado usam — e a linguagem que eu usava como advogado nos processos.
Essa é a grande diferença. O que eu tento mostrar em Do corpo ao pó é que existem registros diferentes de linguagem para as coisas, e existem palavras que são pontos de encontro semântico desses registros. O meu trabalho foi tentar explorar esse outro lado: a capacidade que os índios têm de multiplicar sentidos nas palavras que a sociedade nacional e o Estado usam — e a linguagem que eu usava como advogado nos processos.
A palavra que foi o ponto de desenvolvimento do meu trabalho foi “violência” — uma palavra a que o Estado dá um certo sentido. Então eu passei a falar com os Kaiowá sobre violência, sobre assassinatos, e eles abriam a palavra “violência” em um leque de outras coisas, fundadas em uma descrição pormenorizada do corpo — e que levava do corpo à terra. Como dizem os Kaiowá no livro, eles têm uma palavra (ombojera) que remete à capacidade de desdobrar uma coisa sobre ela mesma. “Violência” foi se desdobrando até que se fizesse nesse livro, que traz, no limite, uma descrição do cosmos, da vida, do mundo, do surgimento e do fim das coisas segundo ouvi dos kaiowá e guarani.
A maior onda recente de solidariedade aos Guarani Kaiowá foi motivada por uma carta da comunidade de Pyelito Kue/Mbarakay, interpretada como intenção de um “suicídio coletivo”. Eles diziam que queriam ser mortos e enterrados ali mesmo, junto de seus antepassados, um discurso que não é incomum em outras falas públicas dos Guarani Kaiowá. Como você lê estas falas?
Os discursos kaiowá sobre o corpo e sobre a terra são abundantes e estão em todos os registros, desde os registros coloniais. Eu mostro no capítulo 3 do meu livro que toda etnografia kaiowá gasta um tempo para dizer coisas em relação ao corpo e à morte. Há uma série de mitos e narrativas de rezas que mostram os guarani rezando sobre os ossos, e talvez essa palavra não seja apropriada, mas existe uma fixação dos Guarani em superar a morte. Esse é o fundamento dos termos akandire ou aguyje, que é conseguir superar a morte com o corpo intacto. Isso está presente tanto nos discursos xamânicos como nos discursos que os guarani fazem para o Estado.
Eu fico pensando o quão restrito é o ponto de vista da sociedade nacional quando escuta esses discursos e os traduz de maneira direta, como [se fossem] agenciamentos da lei para demarcar cemitérios como áreas tradicionais. Isso não é nem verdade do ponto de vista dos técnicos do Estado, porque o relatório [de identificação e delimitação de terras indígenas] da Funai [Fundação Nacional do Índio] leva isso em consideração de maneira muito marginal. Me parece uma apropriação muito direta, porque não está atenta à distância entre os dois discursos, ao equívoco entre eles: projeta sobre os Kaiowá uma linguagem de Estado, jurídica, que não está pressuposta desde o ponto de vista deles.

Tekoha é talvez um dos conceitos guarani que mais tem viajado, chegando até ao Teatro Oficina, na disputa por uma área na cidade de São Paulo. Entre os Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva nós sabemos também que esse termo tem ganhado novos sentidos.
Os equívocos são de dupla mão. Talvez a gente tenha muito mais dificuldade de entender alguns deles. Um bom exemplo disso é o termo tekoha, que entra para a nossa linguagem como um sinônimo de aldeia, de terra indígena, de reivindicação de terra. Eu, como advogado, na hora de listar os acampamentos, uso a palavra tekoha, traduzindo como uma reivindicação de terras. No livro, essa foi uma das palavras que mais me deu trabalho. A tradução mais clássica do termo é “o lugar onde se pode ser”, mas na agência dos indígenas ela está relacionada com todas as possibilidades de ser sobre esse território — que são muitas e estão relacionadas com os antepassados, mas também com o futuro. A palavra tekoharã [usada para se referir aos acampamentos de retomadas] tem uma partícula de futuro (-rã) que identifica uma potência de tekoha, um lugar em que você poderia ser.
Nesse sentido, a maneira como os textos mais clássicos da literatura traduziram tekoha me parece muito pobre. Existe uma discussão sobre se no tekoha há uma família ou muitas famílias, e me parece que esse não é um problema guarani, mas um problema de quem vai fazer o laudo de identificação [e delimitação da terra indígena]. É um problema do Estado. E o que o Estado precisa tentar produzir são traduções menos equivocadas, que ressoem mais entre um registro e outro.
 Quando fomos escutar esses discursos, nós — e digo isso como antropólogo — também traduzimos mal. Se você olhar a literatura [sobre povos] guarani de maneira geral, [verá que] só muito recentemente começaram a se fazer trabalhos a respeito do corpo guarani, o que me parece muito estranho, já que os Guarani estão o tempo todo se referindo ao corpo. O meu trabalho é uma tentativa de abrir caminho para o tema da corporalidade. Nisso, eu faço tributo às contribuições dos antropólogos que trabalharam no Mato Grosso do Sul e que já estavam estudando o tema do corpo kaiowá, como Levi Marques Pereira, Diógenes Cariaga e Lauriene Seraguza.
Quando fomos escutar esses discursos, nós — e digo isso como antropólogo — também traduzimos mal. Se você olhar a literatura [sobre povos] guarani de maneira geral, [verá que] só muito recentemente começaram a se fazer trabalhos a respeito do corpo guarani, o que me parece muito estranho, já que os Guarani estão o tempo todo se referindo ao corpo. O meu trabalho é uma tentativa de abrir caminho para o tema da corporalidade. Nisso, eu faço tributo às contribuições dos antropólogos que trabalharam no Mato Grosso do Sul e que já estavam estudando o tema do corpo kaiowá, como Levi Marques Pereira, Diógenes Cariaga e Lauriene Seraguza.
No livro você opõe a forma de territorialização de que os Guarani Kaiowá foram objeto, com a criação de pequenas reservas indígenas no início do século XX, a uma forma própria de estar no território, que tem seu eixo no corpo. Gostaria que você falasse sobre essa proposta.
A minha proposta de entendimento da territorialização do Estado e do que isso produziu, os efeitos do cerco sobre o corpo guarani, é a de que isso foi compreendido pelos Guarani a partir de uma ideia de disciplina do corpo. Na reserva, o Estado é um ente disciplinador, e quando ele territorializa — para usar um termo de João Pacheco de Oliveira —, isso não é só um projeto de delimitação de fronteiras, mas de disciplinamento do corpo: um projeto de colonização no seu sentido mais lato.
A expressão máxima disso é a cerca, a concretização da territorialização do Estado. Esse projeto do Estado é processado no corpo kaiowá a partir de várias entidades: é agenciado pelas escolas, pelos postos de saúde e também pelo capitão e pelo cabeçante — uma figura importante nas reservas kaiowá, que agencia o trabalho [dos demais]. Quando você conversa com os Kaiowá que voltaram do trabalho nos canaviais, ou com os Kaiowá que estão na reserva, as pessoas dizem: é como se meu corpo não me pertencesse, ou como se meu corpo produzisse duplos, imagens dele mesmo. O corpo vai produzindo imagens e ao mesmo tempo vai se esvaziando.
E como isso acontece nas áreas retomadas, como o Apyka’i, da Dona Damiana, em que você concentrou a pesquisa?
A cerca tem um sentido ambivalente. Se na reserva ela está cercando os índios, na retomada ela está cercando a fazenda: está tentando proteger a fazenda da disposição inabalável de Dona Damiana em reaver a terra que ela considera como dela. Falo disso no capítulo 2. A reivindicação de Dona Damiana está inscrita nos corpos das pessoas: na memória do corpo dela mesma, da família dela e das pessoas que viveram naquele espaço. Nesse sentido, o acampamento de retomada é uma inversão e uma negação da disciplina do cerco das reservas. O acampamento de retomada é o espaço que busca impor uma disciplina nova sobre o corpo. Isso está expresso nos ritos funerários, como possibilidade de controlar, no limite, a própria morte. Se você não consegue autodeterminar a própria vida, que pelo menos você não abra mão da morte — ou da morte dos seus.

Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade reconheceu os processos de remoção forçada dos Guarani Kaiowá para reservas como graves violações de direitos humanos. No livro, você indica que esse cerco não é um processo acabado, dizendo que “o sarambi não foi concluído com a concentração dos indígenas nas reservas”…
Sarambi, antes de ser um conceito historiográfico, é uma palavra em língua guarani que quer dizer “espalhamento” ou “esparramo”. Ela foi agenciada em contextos políticos e foi usada na literatura etnológica e na historiografia para definir um período de tempo — aquele que se sucedeu a frente de ocupação da abertura das fazendas, em que as famílias kaiowá se esfacelaram, espalhando-se pelas territorialidades precárias onde conseguiram se estabelecer. Ela não só identifica esse período de tempo, mas o processo que eles viveram nesse período: a experiência de desarranjo dos laços de parentesco. A partir de um momento da história, isso passa a estar diretamente relacionado com o loteamento das terras do Mato Grosso do Sul e da produção de um cerco às terras kaiowá. A palavra sarambi denomina um processo, e é importante reconhecer isso para poder reconhecer que os efeitos dessa colonização estão aí até os dias de hoje, desarranjando e rearranjando as relações de parentesco e de sociabilidade kaiowá. E [reconhecer também] que uma política de reparação tem que passar pela restituição dos territórios — mas, para além disso, precisa se desenvolver enquanto processo, não com compensações pontuais.
Você inicia o livro afirmando que encontrou nas retomadas uma forma de lidar com os mortos que contradizia os estudos sobre povos falantes de línguas do tronco Tupi — como são os Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva.
Estava de certa maneira consolidado que os povos tupi, quando morria alguém, colocavam fogo nas casas e saíam daquele lugar, para fundar um outro lugar. Mas as etnografias, mesmo as dos anos 1960 e anteriores, descrevem na verdade dinâmicas muito mais complexas de lidar com a morte e com o morto. Existem muitas referências, no Xingu, entre os Tupi no Mato Grosso, enterrando os mortos no centro das aldeias ou enterrando os mortos dentro de casa. O que posso dizer é que, a partir do momento em que você pisa em uma retomada kaiowá, como por exemplo o Apyka’i, as pessoas te levam para conhecer os cemitérios. Se eles faziam isso antes, não sei. Os mortos estão presentes nos discursos das pessoas, nas rezas, nas cartas que a [organização política dos Kaiowá do Mato Grosso do Sul] Aty Guasu emite, de uma maneira muito direta. Existe uma possibilidade de localização do morto no terreno, e uma identificação do morto como protetor do lugar. A própria retomada é um processo de acordar essas pessoas que estão dormindo. No capítulo 4 do livro há uma descrição muito bonita de um rezador sobre como é feita uma retomada: ele canta, às vezes por um mês, um ano, e, quando entra na retomada, ele vem cantando. Os mortos que estão enterrados lá despertam e vêm dançar com ele. Ele fala assim: “Meu povo está chegando! Que felicidade, meu povo está chegando!”.
 É comum ouvir também dos Guarani, em suas falas públicas, que eles lutam por meio de seus cantos e rezas. Como é que esses cantos são agenciados no movimento de “furar o cerco” das fazendas?
É comum ouvir também dos Guarani, em suas falas públicas, que eles lutam por meio de seus cantos e rezas. Como é que esses cantos são agenciados no movimento de “furar o cerco” das fazendas?
O meu trabalho traz um pouco desses agenciamentos e tem até a tradução de um canto, mas não descreve o canto como uma tecnologia. O que me parece é que o canto, de maneiras que talvez para a gente sejam inacessíveis em primeiro momento, têm todo o tipo de função: desde tirar piolho, espantar formiga da roça, até imobilizar os inimigos. Então, dá para entender os cantos como uma técnica ou tecnologia kaiowá de agenciamento do mundo. É muito comum estar nas manifestações, por exemplo, e os Kaiowá irem rezar e pedir para as pessoas saírem da frente, porque o canto tem uma direção no espaço.
No livro está descrito um canto que se chama Piraguai, do Sr. Olímpio, e que ele usaria não só para limpar a roça, mas também como canto de guerra, uma armadilha para os inimigos. E os cantos têm uma grande importância no trato com os mortos. Se o rito funerário é um processo de localização do morto na terra, o canto atua como o instrumento desse processo de localização. Primeiro, você reza o corpo do morto no momento do enterro; depois você tem o velório da cruz durante sete dias — isso está etnografado no livro também. E pelo que me descreveram os Kaiowá, você vai rezar aquele túmulo pelo o resto da vida.
O que você aprendeu enquanto esteve pesquisando entre os Kaiowá?
O livro traz uma série de elaborações kaiowá e guarani sobre o nosso potencial — o meu, o seu, o da sociedade nacional — de destruição do mundo. Quando os Guarani Kaiowá estão falando de morte e de violência, eles estão falando disso. Eles estão falando: “Vocês têm uma tecnologia de produção de corpos vazios!”, e a produção desses corpos vazios está criando problemas nessa terra, desmesurando o cosmos, misturando coisas que não deviam estar misturadas: os vivos e os mortos. Esse é um livro cheio de impressões negativas dessa nossa tecnologia. Inclusive, de conclusões muito trágicas: nos capítulos finais, eles descrevem esse mundo não como um mundo que está acabando, mas que já acabou.
Ao mesmo tempo, o livro traz uma série de demonstrações dos Kaiowá sobre como existem tecnologias para refundar esse mundo — e sobre como refundar o mundo é mais fácil do que destruí-lo. A lição do Apyka’i é que você precisa de muito pouca coisa para refundar uma aldeia: você precisa de um pouquinho de água, um pedacinho de terra, três árvores. Nesse sentido, meu livro é uma denúncia. Mas uma denúncia esperançosa, porque demonstra que é trágico o que os Kaiowá estão vivendo, mas que precisamos de muito pouco para a gente refundar o mundo: é preciso coragem e sensibilidade. São essas as duas lições que eles me dão.
Muitas vezes a imagem usada pelos Guarani Kaiowá para os cantos e rezas é de fazer a terra florescer ou embelezar a terra…
E a imagem do fim do mundo deles é uma terra onde as flores não mais florescem. No fim do livro eles falam disso. O problema de morrer muita gente e de criar corpos vazios é que você para de ter reza, para de enfeitar o mundo, e então as flores não mais florescem. Isso é de uma sensibilidade muito grande, e é um diagnóstico muito preciso da época que a gente está vivendo.
Tatiane Klein é jornalista e doutoranda em Antropologia Social na Universidade de São Paulo (USP)