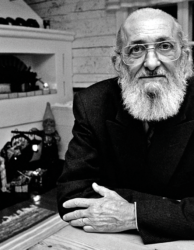Por Isabel Salema Texto
Publicado no Público
Foto de Mariana Castro
João Pedro Cachopo, filósofo e musicólogo, publicou em Portugal, no final de 2020, um livro em que defende que a pandemia nos catapultou para o futuro, nomeadamente com o aceleramento da revolução digital. A torção dos sentidos: pandemia e remediação digital, lançamento de agosto da Elefante, aborda as consequências desse processo no amor, na viagem, no estudo, na comunidade e na arte, fazendo um apelo para que depois da pandemia o mundo se conserve o mais próximo possível do distante.
A filosofia pode ajudar-nos a perceber o presente, mas também o futuro?
Não há forma de chegar ao futuro que não seja através do presente, mas a filosofia deve evitar a futurologia. Uma das teses do meu livro é que a pandemia não é em si mesma o acontecimento, porque o acontecimento é a revolução digital. A pandemia vem acelerá-la e revelá-la como acontecimento transcendental, alterando as condições de possibilidade da experiência. É uma espécie de emblema da revolução digital, como a tomada da Bastilha da Revolução Francesa ou a queda do Muro de Berlim do Fim da Guerra Fria. Mas a pandemia também é a causa de ameaças e problemas. Traz a ameaça da localização, porque este fortalecimento de um imaginário do próximo, do local não nos ajuda a enfrentar os outros problemas: a crise climática, o racismo e o nacionalismo. Não conduz a uma sociedade capaz de cultivar os sentimentos não só de respeito, mas de admiração e atração pelo outro, pelo distante, que verdadeiramente nos colocariam no encalço de uma sensibilidade e de uma consciência globais, antirracistas e ecologicamente responsáveis.
Quais filósofos você acha que são capazes de interpretar melhor a pandemia?
Terão sido os filósofos da revolução digital, porque já tinham um conjunto de dispositivos conceituais? Não sei. Acho que no caso do Byung-Chul Han é uma desvantagem, porque a desconfiança dele em relação às tecnologias digitais o impede de perceber que, apesar de não serem uma condição suficiente, elas são uma condição necessária do combate à tal mentalidade centrada no local, na proximidade e na nação. Não é possível cultivar uma visão planetária sem ter em conta as tecnologias digitais. Isto não quer dizer que elas não possam também contribuir para movimentos racistas.
Você defende que a pandemia provocou um abalo profundo nos alicerces que sustentam a percepção do próximo e do distante, e muito especialmente no amor. Porque é que foi um desafio para os amantes?
O amor, a viagem e o estudo são aspectos da nossa existência cuja dinâmica depende diretamente da imaginação do próximo e do distante. É por isso que foi um aspecto drasticamente afetado pelas medidas tomadas para conter a pandemia. Com duas consequências aparentemente paradoxais: se os amantes já moravam juntos, foram forçados a uma proximidade extrema e permanente; se não viviam juntos, foram obrigados a um certo distanciamento. No meu livro acrescentei que, sendo um desafio, também seria uma oportunidade, por convidar à tomada de consciência de que o amor é sempre, independentemente das circunstâncias, uma arte da boa distância.
Considera que esse desafio pode permite reinventar as regras do amor e discutir algo quase sempre à margem quer do pensamento liberal, quer do pensamento conservador: a coabitação como destino natural dos amantes?
No contexto dessa tomada de consciência, a pandemia pôs em xeque a coabitação como destino natural dos amantes, dogma que atravessa todo o espectro político. Num primeiro momento, a distância é um obstáculo ao amor, porque a consumação do amor, a todos os níveis, depende da proximidade, e a dimensão corporal é absolutamente necessária. Mas, ao mesmo tempo, os constrangimentos enfrentados pelos amantes que tiveram de viver permanentemente juntos conduziram a uma perplexidade perante a dificuldade que isso também constitui, levando à constatação de que o amor tem a ver com esta pulsação entre momentos de distanciamento e momentos de aproximação.
Porque é que os filósofos estudam o amor?
O amor tem sido para muitos filósofos, e não só recentemente, uma forma de pensar o diferente. Isso está presente em autores como Deleuze e Badiou, por mais diferentes que sejam. Para Badiou é um exemplo de acontecimento, tal como a arte, a ciência e a política, porque corresponde a qualquer coisa de verdadeiramente transformador. Esses acontecimentos iniciam processos de verdade, de construção de uma subjetividade em torno de uma fidelidade a um determinado acontecimento transformador.
A viagem, outra experiência que se tornou suspeita durante a pandemia, vai regressar nos mesmos formatos?
É importante distinguir entre a viagem e o turismo. A viagem já estava ameaçada antes da pandemia, precisamente pelo turismo, que trabalha para tornar esse encontro do longínquo o mais tênue, ilusório e confortável possível. Também é preciso não desprezar o fato da pandemia estar comprometendo as condições materiais da viagem, criando uma série de empecilhos e desincentivos. A burocratização da viagem, as novas fronteiras que se vão erigindo, isso pode ser problemático, porque é solidário com o tal novo perigo do fechamento da imaginação no espaço do local, dos próximos, do nosso círculo, dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos.
O filósofo só interpreta ou também transforma e intervém na sociedade?
Entendo que a filosofia tem uma relação de tensão com o presente, uma relação intempestiva, como diria Nietzsche. Essa relação tem dois momentos, o interpretativo e o transformador, mas eles surgem quase sempre entrelaçados. Isso tem a ver com a adoção de hipóteses absolutamente radicais que transformam de uma forma também absolutamente radical a nossa percepção da realidade. De uma forma retrospectiva, isto quase pode ser dito de qualquer filósofo, desde Heráclito, com a sua ideia do devir, passando pela hipótese transcendental do Kant, pelo eterno retorno do Nietzsche, pela ideia de igualdade de Rancière. Esse momento transformador já está implícito no gesto interpretativo. Um bom exemplo disto é a ideia da igualdade das inteligências em Rancière, que ele apresenta, de forma contra-intuitiva, não como um ideal ou um objetivo empírico, mas como um fato. Essa perspectiva, na sua radicalidade, será solidária de movimentos emancipatórios e igualitários, na medida em que mina de antemão a legitimidade da hierarquia entre mestre e discípulo.
O que é que a filosofia publica mais atualmente?
Há de tudo. Mas há temas que me interessam mais do que outros. A crise ecológica é um deles — o livro do Emanuele Coccia sobre as plantas [A vida das plantas: uma metafísica da mistura] é uma forma indireta de discutir essa questão. Outros temas são a revolução digital e a inteligência artificial, que o Markus Gabriel aborda de forma particularmente sagaz e desassombrada.
A filosofia interessa-se pela tecnologia, mas não tanto pelas questões da ciência?
A relação entre fato, verdade, ciência e filosofia é um debate que está muito em chaga. O Rancière escreveu um texto brilhante sobre este assunto recentemente, porque há o problema das fake news e uma tendência defensiva para achar que ele se combate com uma espécie de idolatria dos fatos. Os fatos voltaram a estar na moda. Isto gera uma série de equívocos e de perigos, nomeadamente sobre a afinidade da filosofia com a ciência. As perguntas da filosofia não são as perguntas da ciência. O problema da filosofia não é a definição do que é ou não um fato, mas perceber porque é que as pessoas aderem às fake news. Talvez faça parte do papel da filosofia lançar uma suspeita: nem sempre as pessoas aderem às fake news por terem sido enganadas pelas fake news. Há uma diferença entre aderir às fake news e acreditar nas fake news. Tentar perceber este fenômeno, mapeá-lo é uma tarefa filosófica absolutamente crucial no momento presente.
Numa sociedade cheia de estímulos, em que o déficit de atenção é tido como uma das epidemias atuais, que recepção pode ter a arte?
É verdade que esta proliferação de estímulos parece prejudicar a atenção necessária à leitura e à escuta, ou a contemplação que um espetáculo exige. Mas a dicotomia entre atenção e distração pode ser mais complexa. Vamos pensar, por exemplo, no Spotify ou no YouTube, que de início podem contribuir para uma certa superficialidade da recepção. Ao mesmo tempo, talvez não seja descabido equacionar a hipótese de que também contribuam para uma certa sensibilidade para a montagem e para a ideia de corte; e, para citar os concretistas brasileiros, para uma sensibilidade verbo-vocal-visual, ou multimidiática. Estes estímulos variados contribuem para uma geração que reforça a relação entre o visual, o texto e o som, o cruzamento media. Outra questão que surge nestes debates é a do algoritmo, a repetição do idêntico que vai ser reconhecido, de que se vai gostar, porque corresponde já a um padrão. Isso é também um grande problema. Também me parece importante identificar um certo tipo de atenção que possa coincidir com uma disponibilidade para o encontro com o inédito. Se se perder a disponibilidade para o encontro do completamente novo, é um grande perigo. De resto, a atenção não se traduz imediatamente nessa disponibilidade para o encontro com o outro. De alguma forma, a pessoa que vai à Gulbenkian para ouvir sempre o mesmo concerto e a pessoa que aceita de forma acrítica as sugestões do Spotify são farinha do mesmo saco, porque estão reféns desse gosto pelo que já conhecem.
O que diria que a arte atual, tão eminentemente politizada — de protesto, com temas como as questões de gênero, o pós-colonialismo ou o antropoceno —, revela sobre a nossa sociedade?
Reconheço-me numa linha de pensamento estético, que vai do Adorno ao Rancière, em que a política da arte — tudo o que na experiência estética dialoga com a nossa experiência no mundo — não se restringe à arte política. É preciso distinguir a política da arte da política dos artistas e do sentido político das obras de arte. Isso não quer dizer que só a arte não política seja política — quer dizer que independentemente de quão engajados forem a prática ou o objeto artístico a questão da política joga-se a montante e a jusante dessa dimensão política explícita.
O tal lado enigmático da arte de que falava Adorno?
Sim, mas não só. Por um lado, há a resistência à interpretação do próprio objeto ou da prática artística, que é política, porque contagia o espectador com perguntas acerca do real. O fato de uma obra de arte resistir à compreensão perturba certas hierarquias perceptivas e da imaginação: entre o antigo e o novo, entre o sublime e o vulgar, entre o ficcional e o documental. A subversão dessas dicotomias é política, porque convida a um olhar completamente diferente sobre o real. Por outro lado, a política da arte desdobra-se através da recepção, do comentário, da crítica, da apropriação. A política da arte de Wagner ou de Shakespeare joga-se não numa análise crítica daquelas obras mas nos debates que rodeiam as encenações, as recriações, daquelas obras. É aí que, cruzando passado e presente, podem e devem ressurgir as questões de gênero e pós-coloniais.
Essa politização, ou essa presença da ideologia, não pode trazer alguma perda das questões intrínsecas à própria arte, uma perda das linguagens vanguardistas?
Depende absolutamente dos casos. Não é possível discutir essas coisas em abstrato.
Que filósofos você indicaria para as pessoas interpretarem a pandemia?
Há autores que foram importantes, porque exemplares de posições marcantes: o Žižek, o Latour, o Agamben, o Chul Han, o Rancière, o Badiou. E há aqueles que achei que abriam uma discussão mais específica que podia ser enriquecedora: o Coccia, a Catherine Malabou e o Paul Preciado.