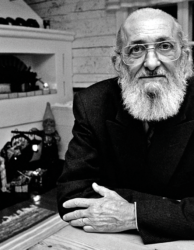Por Jean-Marie Harribey
Publicado em Palim Psao
Tradução Pedro Henrique de Mendonça Resende
Jean-Marie Harribey: Você acaba de publicar A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição, no qual apoia-se na “crítica do valor”, tema de seus livros precedentes, para analisar como a sociedade capitalista produz um tipo de subjetividade dos indivíduos que os integra à sua dinâmica autodestrutiva.
Comecemos pelo início. A tese central da “corrente crítica do valor”, que você representa com Kurz, Postone, e talvez Gorz (voltaremos a falar dele), é considerar que o trabalho, o valor e a mercadoria são categorias do capitalismo e somente dele. Desta hipótese resulta uma proposição política: para se desvencilhar do capitalismo, é preciso desvencilhar-se do trabalho, do valor etc.
Se se trata de um problema semântico, quer dizer, se está decidido desde o início chamar de “trabalho” o trabalho proletário assalariado e dizer que o valor é o valor para o capital, a discussão está encerrada, basta encontrar outros conceitos para dar conta de outras realidades fora do capitalismo ou que subsistem (ou se desenvolvem) em seu seio. Mas a minha questão é a seguinte: Marx sempre distinguiu o que ele chamava de processo de trabalho em geral do processo de trabalho capitalista. Fazer do trabalho e do valor categorias exclusivamente ligadas ao capitalismo não é recusar essa distinção marxiana?
Dito de outro modo, aceitando totalmente a ideia de que as formas do trabalho, sua organização, os objetivos que lhe são atribuídos, são produto de relações sociais, e são, portanto, construções sociais e históricas, pode-se eliminar toda dimensão que ultrapassa tal quadro, e que teria um caráter antropológico relativo à condição humana (não à “natureza” humana)? O que é feito, para a corrente crítica do valor, do ser humano que produz, por meio do seu trabalho, suas condições de existência, e também produzindo-se a si mesmo? O conceito de “trabalho vivo” não carrega consigo a ideia de “reprodução da vida social”, tanto no plano material quanto no cultural e simbólico, quer dizer, a ideia da centralidade do trabalho vivo, e isto para além da contingência histórica do capitalismo? O que é feito do ser humano na sua relação metabólica com a natureza, que sempre existe, no âmbito de relações sociais, é claro?
Se esta discussão é de natureza metodológica, até mesmo epistemológica, não seria possível considerar que é porque o capitalismo tende a fazer do trabalho um dado homogeneizado, indiferenciado, abstrato que se pode ser levado a ver nele apenas um conceito histórico ligado ao capitalismo?
Seu livro inscreve-se no cruzamento de várias filiações teóricas, notadamente o marxismo e a psicanálise. Mas, para além das figuras de Marx, de Freud e de alguns outros, ele se inscreve no cruzamento de várias disciplinas no seio das ciências sociais e humanas. Como levar em conta, então, o aporte da antropologia, [área] na qual diversos autores importantes sublinharam, depois dos numerosos estudos de campo sobre sociedades pré-modernas, que se o trabalho não tomava as formas que nós conhecemos, [mesmo] se seus membros não tinham as mesmas representações de suas atividades produtivas, [ainda assim] estas eram trabalho?
Eu penso em Godelier, Descola e Deranty, quanto a autores de língua francesa, e em Sahlins, para quem os povos caçadores-coletores trabalhavam menos que nós, mas trabalhavam, mesmo que a fronteira com as outras atividades fosse tênue. E Polanyi cita Malinowski, que analisa “o trabalho no meio indígena” como dissociado da ideia de seu pagamento; ele cita também Firth: “O trabalho por ele mesmo é uma característica constante da indústria Maori”. Todos parecem assim conservar essa dualidade do trabalho, sublinhada por Marx, com uma dimensão antropológica e uma dimensão histórica estreitamente misturadas.
Pode-se estender a discussão a duas outras categorias cujo status é talvez incerto em Marx. Sabe-se, hoje, que o mercado e a moeda são duas instituições sociais bem anteriores ao capitalismo e que, se este lhes deu um desenvolvimento particular para servir à acumulação do capital, elas não podem ser reduzidas a esta última. Deparamo-nos, mais uma vez, com a discussão a respeito da produção na esfera monetária não mercantil. Novamente, a discussão teórica tem prolongamentos políticos e estratégicos: uma sociedade que ultrapasse o capitalismo não manteria a moeda, colocada a serviço do interesse geral? A mesma questão não valeria também para o mercado?
Anselm Jappe: Às vezes tem-se a impressão de que numerosas discussões – em todos os campos e em todos os meios – giram em torno de palavras e são amplamente reduzidas ao fato de que os participantes associam sentidos muito diferentes às mesmas palavras. Entretanto, seria um equívoco caso se dissesse então que as divergências são apenas semânticas e que no fundo aqueles que se opõem nos debates estão mais próximos do que acreditam. Alguns regozijar-se-iam de poder dissolver, dessa maneira, a realidade nos discursos. Mas eles se equivocam, porque, na verdade, as diferenças semânticas cobrem geralmente diferenças bastante “essenciais”.
É assim para uma palavra que está entre as mais difundidas no mundo e entre as mais carregadas de significado: “trabalho”. Ter-se-ia a maior dificuldade para explicar essa palavra no sentido que a empregamos – eu já não digo a um indígena de uma aldeia amazônica, mas simplesmente a Cícero ou a Tomás de Aquino. Mas, desde alguns séculos – meio milênio no máximo, em várias regiões do mundo –, período que tem durado a sociedade do trabalho, esse conceito está tão profundamente arraigado nas nossas cabeças que parece impossível não utilizá-lo. Aceita-se, então, discutir suas mil formas particulares, mas negar sua existência pré-histórica parece tão insensato quanto negar a necessidade universal de respirar.
Evidentemente, uma precisão “semântica” impõe-se: o trabalho cujo caráter universalmente humano nós colocamos em dúvida não pode ser idêntico ao que Marx chama “o metabolismo com a natureza” ou às atividades produtivas em geral. Aqui, nós não discutimos senão a forma social que assumiram historicamente estas atividades. Dizer que a forma social capitalista do metabolismo com a natureza é apenas uma forma específica da necessidade eterna de assegurar esse metabolismo é um truísmo vazio de sentido: é como dizer que a agricultura capitalista é um desenvolvimento da necessidade humana de ter uma ingestão diária de calorias. É indubitavelmente verdadeiro, mas não significa nada. Essa base comum de toda existência humana não tem nenhum poder específico de explicação.
A questão não é, portanto, saber se, em toda sociedade humana, os seres se ocupam para retirar da natureza aquilo de que têm necessidade, mas se eles sempre operaram no interior de suas atividades uma ruptura entre o “trabalho”, de um lado, e o resto (jogo, aventura, reprodução doméstica, ritual, guerra, etc.). E eu penso que se pode dizer “não”.
Contudo, uma vez instituído o “campo” do trabalho, a partir do século XIV, e definitivamente a partir do século XVIII, tornou-se difícil representar a atividade produtiva de outro modo que não sob a forma de “trabalho”, qualquer que seja a época ou a sociedade considerada. Até mesmo os espíritos mais críticos sofrem influência disso. Assim, Marx oscilou durante toda sua vida entre uma concepção trans-histórica do trabalho e uma concepção crítica e historicamente específica, quando ele analisa o “trabalho abstrato”. É preciso dizer que não existe trabalho que não tenha um “lado abstrato”, pois o trabalho, desde que ele apareceu historicamente, possui uma “dupla natureza”, abstrata e concreta. Portanto, todo trabalho é “trabalho abstrato”; não existe inicialmente um trabalho concreto que teria se tornado “abstrato” em seguida.
A crítica do valor distingue, com efeito, entre um “Marx esotérico” e um “Marx exotérico”. Não é uma questão de “fases” do seu pensamento, mas de diferentes níveis de consciência que se misturam e se entrelaçam em toda sua produção. De um lado, Marx pertencia, apesar de tudo, ao pensamento “moderno” que saiu do Iluminismo, e mais particularmente à sua versão protestante com a famosa “ética do trabalho”. Enquanto “dissidente do liberalismo”, segundo Robert Kurz, Marx carrega muitos dos seus pressupostos, notadamente utilitaristas.
De outro lado, em Marx aparece um discurso diferente, mais fundamentalmente crítico, mais avançado em relação à sua época, mas também mais difícil de apreender, mesmo para o próprio Marx: esse discurso, que aparece na sua forma mais concentrada no primeiro capítulo d’O Capital, mas que está disperso em fragmentos por toda sua crítica da economia política, não considera o valor e o trabalho abstrato, o dinheiro e a mercadoria como fatores eternos de todo modo de produção um pouco mais “desenvolvido”, em relação ao que pode-se discutir a distribuição, mas não a sua própria existência.
Ele os analisa, em vez disso, como sendo a base, e ao mesmo tempo o resultado, de apenas uma formação histórica, o capitalismo, e, segundo elemento essencial, ele demonstra seu caráter destrutivo, situado no nível lógico mais profundo do que as relações de classe com a exploração e a dominação que elas implicam. É o fato de que o concreto – o valor de uso, o lado concreto do trabalho – reduz-se a ser o “portador”, a “forma fenomênica” do abstrato, quer dizer, do valor criado pelo lado abstrato do trabalho: o simples dispêndio de energia, medido em tempo.
Todavia, mesmo no interior do primeiro capítulo d’O capital, Marx parece hesitar, às vezes de uma linha para outra, entre essa concepção do trabalho e uma outra, que vê no trabalho “uma necessidade eterna”. A grande maioria de seus sucessores, os marxistas, escamotearam completamente a sua crítica do trabalho e construíram um “marxismo” que é uma verdadeira ontologia do trabalho e faz do trabalhador o representante privilegiado dessa base de toda a vida humana, diante da qual os outros grupos sociais são apenas parasitas. Foi mais através das vanguardas artísticas que certa crítica do trabalho fez sua aparição em algumas formas de marxismo heterodoxo, sejam os situacionistas, sejam certas páginas de Adorno, de Marcuse e de Horkheimer. Outras formas de crítica do trabalho, e que baseiam-se em práticas reais, apareceram com o operaísmo italiano. Mas essas críticas permaneceram geralmente ligadas a um nível subjetivo ou “fenomênico”: a recusa (muito compreensível!) de submeter sua vida a um trabalho alienado e imposto. O que permanecia ausente era uma crítica “categorial” do trabalho, que reconhece sobretudo a identidade entre capital e trabalho enquanto duas formas da mesma “substância”.
Mesmo os espíritos mais críticos tiveram dificuldades para apreender o caráter histórico do trabalho. Em As aventuras da mercadoria eu critico justamente Marshall Sahlins que, depois da sua tentativa muito meritória de mostrar o pouco tempo que as sociedades ditas “primitivas” consagram às atividades produtivas, não renuncia a classificar a caça com a categoria “trabalho”, enquanto trata-se provavelmente de uma das atividades mais desejáveis em uma sociedade de caçadores.
Em outro contexto de reflexão, Moishe Postone, que elaborou uma interpretação de Marx muito importante e, no geral, bastante próxima daquela apresentada por Robert Kurz e o “ramo alemão” da crítica do valor, cai no mesmo erro: ele demonstra muito bem que apenas no capitalismo o trabalho é a base da vida social e torna-se uma instância que se automediatiza, em que é o trabalho que cria a ordem social, enquanto em outras formas de sociedade era a ordem social que distribuía o trabalho. Postone indica que o trabalho desempenhava um papel social totalmente diferente nas sociedades não capitalistas, mas ele não chega à conclusão de que a própria categoria trabalho não existia nestas sociedades.
Eu sublinho no meu livro, no entanto, que antropólogos e historiadores como J. P. Vernant ou M. Finley mostraram, para além de qualquer preconceito ideológico, a impossibilidade de aplicar o conceito de trabalho às sociedades antigas. Isto não significa, de toda maneira, que os seres humanos não devam fazer esforços – às vezes muito grandes – para satisfazer suas necessidades, reais ou simbólicas. Mas esses esforços estariam sempre ligados aos resultados esperados. Eles seriam o preço a pagar para obter o que se deseja. É somente no capitalismo que uma parte das atividades foi destacada de todo conteúdo concreto e resumida em apenas uma categoria, o trabalho, como dispêndio de energia que cria os objetos (ou serviços) sem nenhum plano preestabelecido, colocando em relação post festum os produtores no mercado anônimo. Isto é o que se chama “trabalho”. Caso se queira, ao contrário, aplicar esse termo a toda atividade humana, ele perde todo poder de distinção, toda capacidade heurística.
Podem-se fazer considerações paralelas a respeito do dinheiro. O fato de as moedas existirem em muitas sociedades pré-capitalistas não prova seu caráter “natural”: neste contexto, o dinheiro não era a representação de um equivalente geral que iguala todas as atividades produtivas e todos os produtos, ele não era acumulável além de um certo nível, ele não era o verdadeiro objetivo da produção, e ele encontrava-se sempre “encrustado” em outras formas de troca, geralmente em um contexto sagrado. O dinheiro e o trabalho andam juntos. O trabalho como vínculo social não é possível sem a presença do dinheiro, e o dinheiro não é “dinheiro” onde o trabalho não constitui o vínculo social. Nós pensamos espontaneamente que os gregos teriam uma “economia”. Mas o grande historiador da Antiguidade Moses Finley começa seu livro clássico A economia antiga (1973) mostrando que não existia economia. Não se pode ver, então, de nenhuma maneira, como – e por que – continuar com a moeda em uma sociedade pós-capitalista, que não pode sê-lo senão ao abolir o equivalente geral e a homologação destrutiva que ele opera.
JMH: Em A sociedade autofágica, que começa com a apresentação do mito de Erisícton, esse insaciável “rei que se autodevora”, você analisa a crise do capitalismo como uma crise do valor e não como uma degenerescência da lei do valor, com o que eu estou plenamente de acordo. Da mesma forma, em As aventuras da mercadoria, você escrevia: “Marx é muitas vezes acusado de tudo reduzir à vida econômica e de negligenciar o sujeito, o indivíduo, a imaginação ou os sentimentos. Na verdade, porém, o que Marx fez foi simplesmente fornecer uma descrição implacável da realidade capitalista. É a sociedade mercantil que constitui ela mesma o maior ‘reducionismo’ alguma vez visto. Para sair desse ‘reducionismo’ é preciso sair do capitalismo, não da crítica do capitalismo. Não é a teoria do valor concebida por Marx que se encontra ultrapassada, mas sim o próprio valor”. Mas você poderia precisar em que a corrente crítica do valor se distingue das teses dos teóricos do capitalismo cognitivo nesse ponto, e sem dúvida também de Gorz, porque até mesmo Marx, na célebre passagem dos Grundrisse abundantemente citada, passa curiosamente da ideia de que o trabalho não é mais o produtor essencial da riqueza para a de que o trabalho não é mais o produtor do valor, [sendo isso] o que o faz dizer que a lei do valor está “suspensa”?
Precisar isto é importante pois implica uma caracterização da crise atual. Estamos nós, como você escreve, “na época de decomposição do capitalismo” ou no fim de um ciclo deste, marcado pela impossibilidade de fazer da finança um substituto do trabalho produtivo de mais-valor, mas que não implica necessariamente a impossibilidade de um novo ciclo? É possível saber alguma coisa do futuro? O que nos remete a uma questão política: o lugar da luta de classes nos avanços em direção à superação do capitalismo. Pode-se considerar, como você e Postone, que, até aqui, o movimento operário está preso à repartição do produto do trabalho em vez de atacar a relação social capitalista, e que ele “desempenhou bem a sua verdadeira tarefa: a de assegurar a integração dos operários na sociedade burguesa”? Quando Marx disseca a jornada de trabalho e mostra que a luta em torno de sua duração e pagamento são uma e mesma coisa, ele não liga a crítica da dominação do trabalho àquela da dominação no trabalho? É obrigatório escolher entre libertar o trabalho e se libertar do trabalho, se esses dois problemas são indissociáveis? Caso contrário, em que e como é possível dissociá-los, para incentivar uma reivindicação que faça sentido nas lutas sociais, mais concretamente do que “vamos abolir o trabalho”?
A.J.: No que concerne ao “Fragmento sobre as máquinas” de Marx, ele recebeu interpretações divergentes nas últimas décadas. Os defensores do pós-operaísmo e do seu prolongamento na teoria do “capitalismo cognitivo” afirmam que Marx previu a “superação” progressiva do valor como base da riqueza social enquanto o “intelecto geral” torna-se a força produtiva principal, que nós chegamos com a microinformática nesse ponto e que não falta senão sua tradução política. Para a “crítica do valor” essas páginas dos Grundrisse evocam mais propriamente uma das raízes da crise fundamental do capitalismo: a divergência sempre crescente – devido ao aumento do nível de produtividade – entre a riqueza concreta, que aumenta, e sua representação no valor, sempre em baixa por causa da diminuição do trabalho vivo, única fonte do valor. Entretanto, a lógica do valor (pode-se dizer “lei do valor” se nós entendemos com essa palavra não uma “lei” trans-histórica, mas um dado fetichista válido apenas para o capitalismo) não desapareceu até agora, mas continua a exercer sua dominação e fazer o concreto entrar na camisa de força do valor abstrato. Para obter sucesso, essa lógica deve (sempre como processo fetichista inconsciente regido pelo “sujeito automático”, não como decisão consciente de alguns “dominantes”) cada vez mais trapacear a si mesma. Assim, compensar a falta de dinheiro “real” (saído de uma verdadeira valorização do valor inicial através de uma utilização produtiva do trabalho vivo) com o dinheiro a crédito, o “capital fictício”, permite continuar ainda um pouco a vida sob perfusão do capitalismo, enquanto “suspende” na prática uma parte de suas leis de funcionamento. Isso não constitui, no entanto, uma saída do capitalismo, mas somente uma referência ao redde rationem.
Toda a crítica do valor é uma teoria da crise fundamental do capitalismo. Ele se choca agora contra seus limites internos: o principal sendo a diminuição da sua substância criada pelo trabalho vivo. As massas crescentes de homens que se tornam “supérfluos” são a consequência mais visível. Não é lugar aqui de repetir todas nossas análises. Lembro somente que, desde o fim do ciclo fordista, por volta de 1970, anuncia-se continuamente novos ciclos baseados em novos modelos de acumulação. Mas eles jamais chegaram. E com razão: cada novo produto, cada novo método de produção se apresenta desde o início com muita tecnologia e muito pouco trabalho vivo. Desde quase meio século, o capitalismo sobrevive, e subsiste, graças à simulação financeira.
“É obrigatório escolher entre libertar o trabalho e se libertar do trabalho, se esses dois problemas são indissociáveis?” O problema não se coloca verdadeiramente, e menos do que nunca, nos termos de uma alternativa entre reforma e revolução, maximalismo e pragmatismo, curto e longo prazo. A abolição do trabalho e do dinheiro não é mais um programa utópico e extremista, mas é realizada dia após dia pela crise capitalista. Existe cada vez menos trabalho e menos dinheiro “verdadeiro”. Sair do capitalismo significa, então, fazer face a essa situação e inventar novas formas de atividade e de circulação. O que implica evidentemente reorientar as “lutas sociais”. Se às vezes pode ser justificado, no curto prazo, defender um posto de trabalho ou um serviço do Estado, no médio e longo prazo não é desejável, nem realista apostar nessas formas fetichistas que sempre foram desastrosas e que, além disso, hoje não funcionam mais.
JMH: Se o método da corrente crítica do valor é contido, ou seja, recusa a utilização de conceitos “plenamente desenvolvidos” no capitalismo (A sociedade autofágica) para outros contextos, como ocorre que esse método seja, se não abandonado, ao menos relaxado quando você integra na sua análise o aporte da psicanálise? Por exemplo, você escreve (p.186): “Assim como Marcuse, que levou a sério a ‘pulsão de morte’ e construiu sobre essa noção uma crítica do capitalismo, pensamos que é necessário admitir que uma parte das pulsões destrutivas estão bastante presentes nos seres humanos desde o começo e não provêm somente da corrupção da natureza humana que anteriormente teria sido virgem. O capitalismo não inventou tais pulsões, mas ele rompeu as barreiras que as continham, e favoreceu sua expressão, geralmente para explorá-las”.
Se aceitamos esse “é necessário admitir…” – de natureza (se eu posso dizer) antropológica – no domínio da psicanálise, por que ele não é possível no socioeconômico? Uma coisa é dizer, como Postone e como você, que “conforme Marx, a forma mercadoria e a lei do valor se desenvolvem plenamente apenas no capitalismo e elas são suas determinações essenciais”, outra coisa é concluir que elas existem apenas no capitalismo e que no seio deste existe o valor somente para o capital. Isto significa que o trabalho produtivo definido como aquele que produz o valor para o capital representa o ideal-tipo do capitalismo. Mas e quanto ao capitalismo concreto no qual as forças de trabalho produzem o valor monetário mas não mercantil [sic] para a sociedade na educação, na saúde, que não se pode considerar como financiado pela produção de mercadorias, a não ser que caiamos na crença liberal?
A.J.: É um dos aspectos centrais do meu livro, e espero um dos mais inovadores: sair da falsa alternativa entre a projeção das categorias modernas sobre toda a existência humana, até mesmo a passada e a futura, para fazer destas categorias uma “natureza humana” (base da visão burguesa desde Hobbes), e, no polo oposto, a recusa, tipicamente pós-moderna e “desconstrutivista”, de toda base natural ao humano e de toda continuidade histórica. Eu parto do princípio de que existem traços recorrentes em quase todas as sociedades e que, se eles não são estritamente biológicos, são seguramente formados antes da “história”. Por exemplo, os traços que dependem do nascimento prematuro e da dependência prolongada do bebê, e de sua angústia da separação da mãe. Por outro lado, eu sublinho a grande variedade de formas que os elementos de base assumiram ao longo da história, e isto em uma relação dialética (não unilateral segundo um “determinismo econômico”, nem, vice-versa, como autonomia do simbólico) com a evolução das sociedades. O capitalismo não inventou as inclinações ruins do ser humano, tal como o narcisismo, mas ele as explora para seus fins e as faz prosperar ao invés de barrá-las. A lógica da mercadoria desmantelou as estruturas tradicionais que permitiram durante muito tempo frear as “paixões ruins”, como o egoísmo. Sair do capitalismo não significa, portanto, construir um “homem novo” a partir do zero, nem aceitar o homem contemporâneo como a última palavra da história. Trata-se mais de revalorizar certas estruturas do passado e de inventar outras.
Essa visão se situa, então, entre os truísmos vazios do gênero “o homem deve sempre procurar uma subsistência, se reproduzir, relacionar-se com seus semelhantes”, etc., demasiado gerais, e a retroprojeção de categorias modernas como economia, mercado, moeda, trabalho e Estado em outras sociedades.
É absolutamente necessário manter a distinção entre trabalho produtivo (produtivo de capital, certamente, o que não tem nada a ver com a “produtividade” em relação ao uso humano) e trabalho não-produtivo. Para a acumulação do capital global (no nível do capital particular, a coisa pode se apresentar diferentemente, mas isto não tem importância para uma análise sistêmica), a educação, a saúde, etc., são “não produtivas” e constituem uma simples dedução do lucro industrial, uma dedução que é necessário reduzir tanto quanto possível. À sua maneira, a ideologia liberal constata esse fato, mas evidentemente sem nenhuma compreensão das causas. É um dos grandes paradoxos do capitalismo que as atividades mais úteis e agradáveis apareçam geralmente como “não produtivas”, enquanto que a produção de Roundup ou de um smartphone são “produtivas” (de capital). Entretanto, querer valorizar – em termos de mercado, como dinheiro – as atividades verdadeiramente “úteis”, ao passo que se permanece no interior do contexto de mercado, não é um perspectiva desejável nem realista.
JMH: Um lugar muito importante no seu livro é ocupado pelo fetichismo, este conceito de Marx pelo qual ele nomeia a transformação do indivíduo em “sujeito automático” (p. 20 e seguintes). Você tira desse conceito a ideia de ir buscar em Freud as ferramentas para “chegar a uma história ‘materialista’ da alma humana; ‘materialista’ não no sentido em que se pressupõe uma proeminência ontológica da produção material ou do ‘trabalho’, mas no sentido em que não se concebe a esfera simbólica nem como autossuficiente nem como autorreferencial” (p. 25). Você pode explicar por que a constituição desse sujeito automático é inseparável, na sociedade moderna, do fortalecimento do narcisismo? Dito de outro modo, em que o fetichismo se identifica com o narcisismo, não por um vínculo de causa e efeito de um em relação ao outro ou inversamente, mas como um “desenvolvimento paralelo” ou como as “duas faces da mesma forma social” (p. 26)? Caso se defina o narcisismo como “uma fraqueza do eu: o indivíduo permanece confinado em um estágio arcaico do desenvolvimento psíquico” (p. 27), compreende-se bem que esse arcaísmo pode em certas condições engendrar formas de violência que você analisa na sequência, mas de que modo esse narcisismo forma um par com o fetichismo da mercadoria? Se o conflito edipiano não é superado nem mesmo atingido, as coisas não se dão antes mesmo que o indivíduo esteja preso em alguma relação comercial, antes mesmo que ele esteja preocupado com o trabalho enquanto mediador social que “faz de cada indivíduo um membro da sociedade que partilha com os outros membros uma essência comum, permitindo-lhe participar da circulação de seus produtos”?
A.J.: De acordo com Marx, é preciso ter em conta que o capitalismo não é somente uma questão da opressão exercida por uma classe identificável, mas que ele se reproduz também nas cabeças e nas almas. Em um primeiro momento, a atenção se concentrou no vínculo entre as estruturas autoritárias do capitalismo e as tendências autoritárias dos indivíduos, e se retraçou a origem da família pequeno-burguesa e o papel do complexo de Édipo para sua formação. Contudo, essa análise – proposta sobretudo pelo “freudomarxismo” – era exata apenas para um período histórico particular. Em seguida, outras estruturas da personalidade, e notadamente o narcisismo secundário, acabaram por dominar. Chistopher Lasch foi um dos primeiros a evocar isso no seu livro A cultura do narcisismo (1979). Sua explicação das origens históricas do narcisismo permanece, todavia, bastante redutora e não estabelece verdadeiros vínculos com a crítica da economia política. Em A sociedade autofágica eu tento determinar – o que não é senão uma primeira incursão – o vínculo entre o narcisismo e o “sujeito automático” criado pelo fetichismo da mercadoria. O fetichismo aplaina o mundo, ele reduz todo elemento concreto a ser apenas o “portador” de uma porção de trabalho abstrato. Ele nega então as especificidades de todo objeto e finalmente nega o próprio mundo. Tudo reduz-se ao mesmo. O narcísico faz a mesma coisa: ele percebe o mundo somente através suas projeções que devem satisfazer seu desejo de onipotência, que é, por sua parte, uma compensação à sensação de impotência total que é aquela do bebê. Em vez de chegar a um domínio limitado mas real sobre o mundo, através do reconhecimento do Outro no complexo de Édipo, o narcísico se satisfaz, geralmente sem saber, com projeções e fantasmas. Essa relação com o mundo é formada muito cedo, a partir da primeira infância, muito antes de qualquer entrada na vida social ou econômica. Ela seria, no entanto, reversível – curável – se o sujeito contemporâneo não se deparasse em seguida, a cada passo da sua existência, com fatores que reforçam esse narcisismo e o exploram, da publicidade às tecnologias comunicativas, da concorrência permanente ao quantified self… Esse narcisismo não é próprio de uma classe ou de um segmento da sociedade, mas encontra-se, em taxas variáveis, na maior parte dos sujeitos contemporâneos. Mas nisso reside também uma esperança: cada um pode começar, aqui e agora, a se libertar, até mesmo com pequenos gestos.