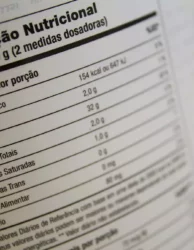Por Soledad Barruti
Publicado em Anfibia
1
“Sabemos que outra pandemia será inevitável. Está chegando. E também sabemos que, quando isso acontecer, não teremos medicamentos, vacinas, profissionais de saúde ou capacidade hospitalar suficientes”, disse Lee Jong-wook, então diretor da Organização Mundial da Saúde, em 2004. O discurso foi proferido quando o planeta tentava se recuperar do susto surgido com a gripe aviária, que eclodiu em Hong Kong em 2003.
O médico alertou para um fato muito difícil de ouvir: que um surto pior poderia acontecer a qualquer momento. Em 2009, por exemplo, quando outro vírus saltou de um porco para se tornar Influenza A que, a partir do México, alcançou o mundo inteiro; ou em 2012, quando a síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers) emergiu dos camelos da Arábia Saudita, infectando pessoas em 27 países.
“Não devemos temer os mísseis, mas os vírus”, disse Bill Gates em uma palestra no Ted Talk em 2015, depois que o ebola quebrou os limites corporais de uma espécie de morcego, em 2014, para se converter em um pesadelo para os seres humanos.
“É uma emergência”, “Precisamos nos preparar”, “Precisamos controlar os vírus”: os documentos oficiais de várias agências das Nações Unidas, organizações globais como a Fundação Gates e vários governos estão cheios de advertências semelhantes. Mas nada foi feito para impedir a covid-19. Talvez porque em nenhum desses espaços de poder houve intenção de nomear de maneira clara e contundente o principal fator desencadeante dessas doenças: a relação abusiva e predatória que estabelecemos com a natureza, em geral, e com os outros animais, em particular.
Vacas, porcos, galinhas, morcegos, não importa de qual animal estejamos falando. Se não os extinguimos com destruição de seus habitats, os engaiolamos, acumulamos, mutilamos, transportamos, engordamos, medicamos e deformamos para aumentar sua produtividade. Forçamos os limites de seus corpos e anulamos seus instintos como se fossem coisas, por meio de técnicas ensinadas nas universidades, repetidas em conferências empresariais e testadas em laboratórios. Um negócio de bilhões de dólares.
Nunca andei de camelo ou visitei os mercados asiáticos, onde macacos, pássaros e tatus são vendidos vivos em pequenas caixas, mas visitei um bom número de fazendas industriais na América Latina — esses lugares de onde vem a comida que julgamos menos exótica e cruel, mais civilizada e mais segura. E nessas granjas aprendi que, em questões como ética, empatia e saúde pública, a diferença entre o que é oferecido em Wuhan e o que preenche as gôndolas dos nossos supermercados é imaginária.
As pragas não são uma novidade, mas estão avançando: duzentas novas doenças infecciosas zoonóticas surgiram nos últimos trinta anos, e nenhuma é resultado da nossa má sorte.
2.
Visitei Rosalía de Barón em 2011 enquanto fazia a pesquisa para meu livro Malcomidos. Ela, uma produtora de ovos da província de Entre Ríos, na Argentina, sabia perfeitamente: seu galinheiro era uma mina de ouro, mas tinha uma fraqueza: poderia desencadear uma praga a qualquer momento.
“Desde que sou assim, vivo entre os ovos”, disse, abaixando a mão até próxima do chão, quando entramos no galpão que continha cerca de quarenta mil galinhas em plena produção. Rosalía era uma mulher forte, quase 40 anos de idade, olhos azuis claros, cabelos loiros gastos e o orgulho de administrar um negócio próspero: oitenta caixas de ovos diários da melhor qualidade. Cerca de dez vezes mais do que sua própria fazenda produzia quando menina, no mesmo espaço. O truque? Concentração automatizada. O galinheiro moderno não tem terra, nem arbustos, nem sol, mas gaiolas de cerca de quarenta centímetros, onde as galinhas vivem por quatro anos, empilhadas em grupos de dez. As gaiolas estão umas sobre as outras e próximas umas das outras, tornando o local um labirinto completamente coberto de penas, bicos e patas que, à primeira vista, é impossível saber a qual galinha pertencem.
Tente imaginar: dez galinhas esmagadas em um espaço onde nem mesmo uma única delas entraria confortável; não há como para bater as asas, deitar-se, virar-se ou satisfazer qualquer um de seus requisitos biológicos além de comer, defecar e dar um ovo por dia.
Quando as galinhas estão amontoadas, elas só conseguem subir uma na outra, se enroscar e enfiar a cabeça pelas barras até que os pescoços estejam cheios de feridas, em carne viva. A situação é tão estressante que, dentro de semanas, se tornam canibais. Para impedi-los de comer um ao outro, alguns dias depois de nascerem, as galinhas têm a ponta do bico amputada. Assim, os bicos crescem achatados, como se tivessem atingido uma parede com força.
Que não se matem, mantendo a produção ao máximo: esse é o objetivo. Para alcançá-lo, os produtores lançam mão desse tipo de intervenções: mutilações, controle de luz, sons constantes, vários dias de fome e sede — neste caso, para que sobrevivam apenas as mais fortes. São quinze ou vinte dias sem comida ou água. As galinhas morrem como um brinquedo cuja bateria vai se acabando: consumidas, deitadas uma em cima da outra, com olhos secos, bicos abertos, emitindo um suspiro quase inaudível. Para as que sobrevivem, a ração é renovada e, no dia seguinte, mágica: um novo ovo, o cacarejo infernal; e também medo, carne podre, o cheiro de morte em vida.
Visitar fazendas industriais pela primeira vez tem algo de monstruoso: nem os olhos, nem os pulmões, nem a mente estão preparados para apreender o que acontece lá. O que você vê, o que se ouve dos manipuladores de animais — tão normais quanto um vizinho, um tio, um dentista. A informação chega em etapas: a sistematização da crueldade, a negação da dor (que é evidente). A única justificativa para tudo são as leis do mundo do dinheiro, tão absurdas, tão perversas.
Theodor W. Adorno disse que era preciso olhar para os matadouros e dizer “são apenas animais” para entender a origem de Auschwitz. Diante dessas granjas, tão naturalizadas, tento entender como chegamos até aqui.
Rosalía explicou o que sabia e me disse algo que achava fascinante: “Eu só trabalho duas horas por dia, o resto é feito sozinho”, e apertou um botão que fez o galinheiro começar a se mover. Abaixo das gaiolas, as esteiras transportavam os ovos para o local onde seriam medidos e embalados. Outras esteiras transportavam as fezes, que serão enterradas em uma fossa a poucos metros do galpão. Na mesma coreografia da máquina, bebedouros são reabastecidos e alimentadores se enchem de milho, vitaminas e corante para as gemas alaranjadas que o mercado está pedindo hoje em dia. A precisão da fábrica parecia mostrar que tudo estava sob controle. Os materiais frios e duros cobriam todo o processo com assepsia, apesar da merda, dos fluidos, dos olhos pustulentos e das penas voando.
“No entanto”, continua Rosalía, “nada é tão fácil”. A fazenda tinha um perigo à espreita. “Qual?”, perguntei. “As doenças. As galinhas parecem fortes, mas uma pode ficar doente, e isso seria o fim.”
Pensei nos dias em que as galinhas passam sem água nem comida: se resistem a isso, não são fracas, disse a mim mesma. Mas aprendi imediatamente que não. Galinhas não sobrevivem a uma gripe. A gripe é o calcanhar de Aquiles.
Manter as doenças sob controle em um galinheiro é difícil. Requer condições que desmaterializem essa realidade retumbante: dezenas de milhares de animais amontoados, respiração muito próxima, coceira, estresse, sofrimento. Requer limpeza permanente. Requer medicação: antibióticos e antivirais. E requer manter o resto da natureza à distância: aves selvagens que carregam vírus que podem tornar essa concentração de animais exaustos fontes incontroláveis de contágio.
Antes de instalar o galinheiro, Rosalía tinha três faisões e dois pavões correndo pela propriedade. Mas, quando fechou a última gaiola com as galinhas, ligou o mecanismo e fez as contas, colocou seus pássaros em uma pequena sala da qual não iriam sair nunca mais. Depois, cuidou das garças e dos patos que antes eram lindos de se ver: comprou um rifle e, ao cair da noite, começou a disparar para o alto na esperança de afugentá-los. “Se alguma delas entrasse aqui, eu perderia tudo, seria um desastre”, disse.
Isso aconteceu com seus vizinhos. Um galinheiro infectado se torna um massacre. Abate sanitário de todos os animais, o que tem que seguir a legislação de acordo com protocolos internacionais. Somente na Ásia, nos últimos anos, duzentos milhões de aves foram sacrificadas para impedir a propagação de vírus entre outros animais, e também, acima de tudo, para impedir que os vírus sofram mutações que possam se hospedar em seres humanos, adoecendo-nos, colapsando os sistemas de saúde e matando-nos.
3.
Em 1918, a gripe espanhola infectou metade da humanidade e matou entre cinquenta e cem milhões de pessoas (os números variam de acordo com a estimativa dos registros de alguns países). Embora a origem ainda seja objeto de pesquisa, o ponto mais provável são as granjas que começam a proliferar no Kansas, nos Estados Unidos. Em outras palavras, as pessoas intensificam a produção de animais e rompendo a distância saudável entre espécies — cada uma com seus micro-organismos específicos — para criar um novo mundo bizarro e cada vez mais perigoso. “Todos os vírus infecciosos que nos atormentam podem estar relacionados, de alguma maneira, às fazendas industriais”, diz Rob Wallace, biólogo e autor do livro Pandemia e agronegócio: doenças infecciosas, capitalismo e ciência (Elefante & Igra Kniga, 2020).
É uma ameaça exponencial multiplicadora: o número de animais criados para alimentação cresce quase duas vezes mais rápido que a população humana. Neste momento, há cerca de setenta bilhões de animais confinados, como as galinhas de Rosalía. Aves, vacas, porcos separados pelo produto a ser extraído (carne, ovos, leite), em lugares onde compartilham raça, idade e sistema biológico. E isso, para a natureza, cuja lei mais importante é o equilíbrio na diversidade, significa uma praga gigante. Uma atração inevitável para outros animais, um banquete para micro-organismos. Um experimento permanente de mutações e contágios extremos.
Existem dez animais domésticos por pessoa. Escolha o seu. Galinhas como as de Rosalía. Frangos que engordam em galpões com cinquenta mil indivíduos duas vezes mais rápido do que há cinquenta anos. Bezerros que crescem em currais apertados entre esterco, urina e lama, comendo coisas para as quais não estão preparados: grãos, celulose e (dizem que já não mais) sangue de outros animais. Vacas grávidas sem descanso com úbere de quarenta litros de leite (quatro vezes mais do que há trinta anos), também encurraladas. Porcos amontoados, nascidos de porcas que vivem a vida inteira em gaiolas do tamanho de seus corpos aprisionados.
Todos os casos são parecidos: eles viverão com os olhos vermelhos, dilacerados e inchados de fadiga, respirando ar viciado, mantendo uma certa rebelião e, caso não ocorra nenhum infortúnio, nunca ficarão suficientemente doentes.
A indústria conseguiu gerar “coletes químicos” para fazendas industriais que contenham ou disfarcem manifestações de saúde esperadas quando os animais vivem nessas condições: azia, alergias, ataques cardíacos, infecções das mais variadas. Em um estudo realizado pelo pesquisador Rafael Lajmanovich, na Argentina, sobre galpões de frango, ele encontrou traços de todos os tipos de drogas, de antivirais a clonazepam. Especialmente antibióticos.
Os antibióticos, na criação de galinhas, têm dois usos: preservar a saúde e promover a engorda. No porco, a mesma coisa. Dizimar o microbioma intestinal dos animais retarda seu metabolismo, ajudando-os a ganhar mais peso em menos tempo. Nos rebanhos, o uso é diferente: a demanda dessas vacas cada vez mais cheias de leite é tão grande que as infecções mamárias conhecidas como mastite às vezes parecem incontroláveis, e não há alternativa que não seja retirar os animais da produção e colocá-los em tratamento.
Assim, 80% dos antibióticos produzidos no mundo acabam em fazendas industriais, alimentando outra pandemia que devemos começar a entender antes que ela passe a regular nossas vidas e, novamente, nos derrube. Porque, somados ao uso indevido feito na saúde humana, os antibióticos — que marcaram um antes e um depois na nossa expectativa de vida — estão perdendo eficácia. Hoje, a resistência bacteriana causa setecentas mil mortes por ano e, se isso continuar, o número deverá subir para dez milhões em 2050.
Os antibióticos, administrados em microdoses diárias ou em tratamentos cada vez mais recorrentes, alimentam as bactérias abrigadas por esses animais, permanecem em sua carne (que é então vendida ao público), na terra que recebe suas fezes e na água, por onde tudo flui.
Os antibióticos servem ao seu propósito comercial — os animais sobrevivem e engordam — mas também fazem com que as bactérias passem por mutações para não morrer. Como os vírus, elas deixam as granjas fortalecidas em busca de novos hospedeiros, os colonizam e os fazem morrer de doenças das quais não teríamos morrido se as bactérias não tivessem sido alimentadas com a cura que, por esse motivo, não nos serve mais. Tuberculose, infecção urinária: o atestado de óbito pode ser preenchido com qualquer uma dessas coisas, embora seja mais preciso dizer: danos colaterais causados por um sistema demente.
4.
Antropoceno. Assim é chamada a época em que vivemos. Durante esse período, fizemos aquilo que só os asteroides eram capazes: imprimimos nossa pegada nas camadas geológicas do planeta. Aumento da radiação, toneladas de plástico e ossos de galinha. Se um explorador do futuro quisesse saber o que éramos, descobriria que, sem restrições religiosas e a baixos preços, comíamos galinhas em tamanha quantidade que as tornamos um registro fóssil mais importante do que o das majestosas baleias e leões (provavelmente extintos até lá).
Porque, sim: esta é também a era da sexta extinção. E do aquecimento global. E de pandemias evitáveis.
Com o sistema alimentar à frente, nos lançamos para mudar o mundo para pior, do visível para o invisível. Nos tornamos a espécie em risco de extinguir tudo, em um processo que não conhece quarentenas.
“As clareiras não param. Enquanto a maioria de nós, cidadãos, fica em casa, a ambição de alguns empresários rurais é incontrolável. As escavadeiras estão avançando impunemente, destruindo nossas últimas florestas nativas”, alertou há alguns dias Hernán Giardini, que coordena a campanha florestal do Greenpeace, com monitoramento permanente do desmatamento na Argentina. Nos últimos dez dias de março, foram destruíram mais de dois mil hectares de matas — e, com eles, as árvores, os arbustos e os animais selvagens que levaram milhares de anos para criar esse ecossistema.
A questão também é global: por minuto, por dia, nos 365 dias por ano, quarenta campos de futebol de natureza desaparecem. O que assume seu lugar? Vacas e monoculturas de soja e milho para alimentar outras vacas em currais, porcos, galinhas, frangos. Um terço da terra é cultivada como alimento para animais de criação industrial. Duas ou três produções vegetais para quatro ou cinco tipos de animais.
A biodiversidade é o único controle de pragas que existe. Uma barreira tampão. Uma rede que destruímos, deixando-nos expostos à intempérie, entre o zumbindo de mosquitos com malária, dengue, febre amarela, zika. De barbeiros com Chagas. De roedores com hantavírus. De cervos com Lyme. No Amazonas, o número de mordidas de morcegos aumentou nove vezes nas áreas de desmatamento nos últimos anos.
E, assim, chegamos aos morcegos e tatus.
Os animais selvagens, sem lugar para morar, ariscos, se aproximam perigosamente uns dos outros. E, eventualmente, eles se aproximam dos animais amontoados nas fazendas industriais. Ou se tornam espécimes vendidos em mercados de animais vivos, onde os vírus se expressam e sofrem mutações — e as bactérias também. E então, nas cidades do mundo todo, hotéis, teatros, escolas se tornam hospitais. E a vida cotidiana se detém. E parece que o mundo mudou. Mas não. Os supermercados estão abertos, e fazemos filas eternas para comprar as coisas (nuggets, ovos, iogurte) com as quais continuamos a cozinhar pandemias que mais tarde nos parecerão inevitáveis.
Soledad Barruti é jornalista e escritora argentina, autora dos livros Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (Planeta, 2013) e Mala leche: por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos (Planeta, 2018), que ganhará edição brasileira pela Elefante e O Joio e o Trigo em 2021.