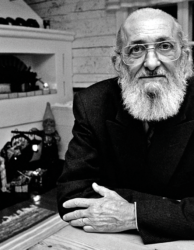Por Paloma Abad
Publicado na Vogue Espanha
Quando Belén López Peiró sentou-se para escrever sua história – a de uma menina que foi abusada repetidamente pelo tio durante a infância –, percebeu que essa não era realmente apenas sua história. Ela precisava dar lugar a muitas outras vozes (a de seus pais, a dos profissionais que a atendiam, às vezes com negligência, a dos especialistas que verificaram que seu tio estava perfeitamente consciente de seus atos…) para explicar um fato, o abuso infantil no ambiente familiar, que, infelizmente, atinge uma em cada cinco meninas na Argentina, seu país natal.
A polifonia (“Naquele mesmo lugar onde eu estava sentada escrevendo minha história é onde ele [meu tio] trocava de roupa antes de tudo acontecer. Escrevi na primeira pessoa e quando terminei saíram outras vozes: a voz da minha tia, saiu a voz do advogado… enxerguei os fragmentos e vi que havia a possibilidade de polifonia. Eu tinha estudado muito e lido livros polifônicos como o de Svetlana Alexievich, Vozes de Tchernóbil, que adoro”, explica a autora) permite que López Peiró explique em Por que você voltava todo verão? as nuances que geralmente são sub-representadas em livros testemunhais sobre abuso sexual. A utilização de vozes diversas – bem como a inclusão de outra mais técnica, com os depoimentos jurídicos que intercalam as reflexões – também amplia o campo de visão do leitor, que assiste, perplexo, à exposição das misérias mais humanas que, enfim, confirmam as falhas do sistema dentro das famílias (mas também na educação, saúde…).
Por que você acha que a sociedade continua a silenciar e a ser cúmplice de casos de abuso?
É uma estrutura bastante complexa. Em princípio, esse silêncio ocorre porque muitas vezes é muito difícil reconhecer que o abuso está ocorrendo, especialmente no abuso sexual infantil. Às vezes vou às escolas para dar palestras e a principal pergunta que meninos e meninas me fazem é: o que é estupro? Existe muita desinformação. Daí a importância da educação sexual nas escolas. E aí, a primeira coisa que aparece é o medo ao falar, o sentimento de vergonha. Normalmente, a imagem da vítima na mídia ou em grupos de apoio é de uma pessoa difamada ou arruinada, além de vulnerável, e esse estereótipo da vítima é capaz de definir todo o seu ser.
Obviamente, reconhecer-se como vítima é o primeiro passo para aceitar a situação e fazer algo a respeito. A questão é que o segundo passo, quase imediato, eu digo a vocês, é conseguir sair desse lugar para não corresponder ao estereótipo da vítima (parte do comportamento de vítima é chorar, é não sentir mais desejo sexual, é não poder se empoderar, e eu acredito que todos esses fatores ainda são muito difíceis de quebrar, que ainda estamos muito longe de quebrar o silêncio). Estamos fazendo isso aos poucos. Ao mesmo tempo, também estamos construindo um novo cenário na literatura e na mídia, de forma que custa cada vez menos dizer “bom, isso aconteceu comigo também”.
Movimentos como a quarta onda feminista (representados pelo movimento #metoo em Hollywood, por exemplo) podem contribuir para essa mudança de paradigma. E alcançá-lo coletivamente …
A força coletiva foi essencial para mim. Quando fiz a denúncia em 2014, eu estava sozinha. Estava acompanhada da minha família mais próxima (minha mãe, meu pai e meu irmão), mas me sentia muito só, pois não tinha uma amiga ou alguém a quem perguntar como é denunciar, como vou me sentir, quantos anos vão demorar… Além disso, eu tinha vergonha, era uma coisa da esfera privada, doméstica. Até que em 2015 as mulheres saíram às ruas [pela primeira vez na Argentina, em junho de 2015, as mulheres invadiram as ruas do Congresso], e depois veio o #metoo nos Estados Unidos, e comecei a sentir… Eu não fui na primeira manifestação na Argentina porque realmente não sabia se fazia parte dela ou não. Há tanta dissociação que ocorre, tanta vergonha que pode ser sentida ao sair e dizer “eu também fui abusada, eu também fiz parte disso”… Mas de repente, eu as vi tão poderosas, tão fortes, que honestamente deixei de me sentir sozinha e percebi que ali era um lugar em que eu poderia descansar e que a dor seria mais leve. Essa força surgiu globalmente, e essa potência coletiva fez e faz com que cada vez mais de nós ousemos nomear esses tipos de violência, nomear os acontecimentos.
Você vê muitas diferenças no tratamento do governo para o abuso infantil na Europa e na América?
Talvez haja um respaldo das instituições diferente. No entanto, as estatísticas dizem que 1 em cada 5 meninas ou meninos são abusados sexualmente na infância. Isso é algo que também acontece na Europa, bem como a questão do silêncio, e o fato de que a grande maioria desses abusos, quase 80%, ocorre no ambiente familiar. Ainda mais nesse contexto de contexto de pandemia, onde a grande maioria das crianças está trancada em suas casas, que deveriam ser lares seguros para as pessoas, mas para algumas, pode ser um inferno.
Ainda estamos lutando pela educação sexual integral nas escolas, para que ela seja aplicada em todas as escolas e não somente na rede pública, e também nas escolas religiosas; para que o aborto seja um direito… Há muitas questões que ainda estão em processo, mas a pauta do abuso sexual me parece ser global. Quando eu estava escrevendo minha história, percebi que não era minha própria história e que eu não precisava me preocupar se as palavras que usava poderiam prejudicar meu ambiente mais próximo. Percebi que não precisava me preocupar porque não estava falando da minha família, o meu caso não era o importante: por isso o livro não tem muitos nomes, por isso não descrevo quem fala em que momento; porque parece-me que essa voz pode ser de minha prima, de uma colega de trabalho. E não só argentina ela pode ser chilena, mexicana ou espanhola. Pra mim esse é um ponto fundamental, entender que o abuso sexual infantil não tem barreiras, não respeita a geografia.
Você deu um passo muito importante em 2014, com a denúncia em si, mas outro, talvez tão grande quanto, foi sentar para reunir todas as informações e escrever sua história. Como foi isso para você?
Estudei jornalismo e comunicação porque desde muito jovem estive muito próxima da palavra. Porém a redação do livro não foi algo que busquei. Eu tinha me matriculado em uma oficina literária de ficção com a [escritora argentina] Gabriela Cabezón Cámara e passei o ano todo tentando escrever esse tipo de texto, até que um dia a Gabriela nos contou que as Avós da Praça de Maio queriam publicar um livro de autores inéditos e que falassem sobre identidade. A Argentina (como em outros países da América Latina e também na Espanha), é muito marcada pela ditadura que vivemos, e eu achava que não tinha muito a contribuir, pois minha vida nunca foi muito atravessada por esse assunto. Então, cheguei em casa, estava na sala, e me sentei em frente ao computador. A palavra “identidade” ressoou muito alto na minha cabeça. “Identidade” é muito amplo e integra muitos conceitos. O que fiz, pensando nessa chamada, foi escrever na primeira pessoa sobre o último abuso que tinha sofrido, naquele mesmo apartamento em Buenos Aires, no quarto ao lado da sala em que estava. Escrevi na primeira pessoa e quando terminei saíram outras vozes: a voz da minha tia, depois a do advogado… Levei o texto para a oficina e mandei-o para a chamada do livro, mas me disseram que não, porque a linguagem era muito forte e o livro seria uma publicação para adolescentes. Eu disse: “Não estou disposta a mudar a linguagem, porque nomear de outra forma iria amenizar a história, seria se esquivar da violência que se sente no corpo e na mente de quem é abusado”. Não vou tentar evitar a dor de quem lê essa história, porque estaria mentindo. Gabriela foi quem me incentivou a parar o que quer que estivesse fazendo para escrever. Eu a ouvi, e aqueles primeiros textos que saíram foram como uma catarata que, em três meses, gerou mais de 50 vozes. Percebi que o abuso sexual não pode ser contado na primeira pessoa: ele é coletivo; o abuso não começa e termina com uma pessoa te agredindo sexualmente, mas continua ao longo dos anos e em todas as partes da vida.
Em sua intenção polifônica, você também introduz textos judiciais…
Parte do desafio da polifonia era ser capaz de me colocar na mente e reproduzir os movimentos e interjeições de outras pessoas. Fazer outras pessoas falarem através de mim. E percebi que a voz da justiça era irreproduzível porque não estava dentro do meu campo linguístico. Lembro-me de como foi encontrar o arquivo do tribunal pela primeira vez. Havia questões que eu não entendia muito bem, um vocabulário próprio. E fiquei pensando em como transformar aquilo em uma linguagem mais comum. Então eu disse: não, ora, se foi um choque tremendo para mim ler este arquivo… quantas pessoas têm acesso a um processo de violência de gênero, abuso sexual, estupro? Entendi que o impacto seria melhor e mais forte deixando que o leitor se encontrasse diretamente com aquela linguagem, que também é irreproduzível, e por isso coloquei apenas os documentos e pronto.
O que você gostaria que as mulheres e jovens se lembrassem depois de lerem seu livro?
O principal é que ele não se destina apenas a mulheres que viveram esta situação: resolvi torná-lo polifônico para que possa tocar e incomodar a cada pessoa que o lê, esteja onde estiver, seja prima, colega de trabalho ou mãe de uma amiga, seja ela amiga, seja irmã, quem quer que faça parte dessa sociedade que permite que o silêncio permaneça durante tanto tempo. Obviamente, uma pessoa que viveu uma situação de violência vai se sentir contemplada pelo livro, e isso é bom, quero que ela se sinta acompanhada, que entenda que pode fazer algo a respeito. Acho que o que o livro faz é mostrar que você também pode fazer algo a respeito. Para mim, escrevê-lo foi muito mais restaurador do que o processo judicial.
Com o livro, senti que poderia ter algum controle sobre o que estava acontecendo comigo. Normalmente, quando somos abusados, perdemos o controle do corpo. Alguém toma nosso corpo sem pedir permissão e faz o que quer com ele. Recuperar o controle daquele corpo leva muito tempo, e às vezes a denúncia não é suficiente pois você ainda está à deriva, esperando a resposta de outra pessoa para poder fazer justiça. No meu caso, a palavra me permitiu recuperar o controle da minha voz, do meu corpo, e fazer algo sobre esse episódio que poderia ter continuado nas sombras. Fazer essa mudança foi muito enriquecedor para mim. E acho que é outra mensagem interessante do livro.
Estávamos falando no início do medo que sentimos quando passamos por algo assim. Mas o sentimento de culpa também chega em algum momento?
Sim, com certeza. Outra consequência de falar sobre os abusos é que, na maioria das vezes, a culpa recai sobre nós mesmas. Por isso o título do livro. Eu percebi com o tempo que a pergunta [feita pela tia da autora, esposa do agressor] não era uma pergunta. Não era “por que você voltava todo verão?” para tentar entender o processo, o que aconteceu. Era uma afirmação. Era por isso que eu voltava todo verão, como outra pessoa poderia dizer “eu voltava para trabalhar”, era como se eu dissesse que voltava porque gostava de ser violentada. Então percebi que a maioria das perguntas eram acusações ou justificativas. Isso também é estrutural. Se houver um feminicídio, a vítima será a primeira culpada.
Embora a mensagem que você está transmitindo seja universal, ela também é muito particular. Como foi a publicação do livro na Argentina, especialmente para sua família?
Obviamente foi difícil, foi parte de um processo… Saber que você é pai ou mãe dessa pessoa… há um questionamento em relação aos cuidados, faltas, presenças… Eu acredito que eles entenderam que escrever era parte do meu processo. Aconteceu algo que considero importante e que vai além deste caso em particular, algo que acontece com nós que escrevemos não ficção: às vezes a escrita vai contra nós mesmos. Acontece quando você percebe que algo é muito importante e que o destinatário nunca poderá ser a família, pois se você escrever para a sua família, muito raramente conseguirá romper com os limites já estabelecidos. Eu queria contar essa história e o importante era a história, não todo o resto. Na verdade, escrevi o livro quase inteiramente sem que minha família soubesse, e em um evento na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires me convidaram para ler um fragmento (antes da publicação). Eu convidei minha mãe, meu pai e meu irmão. Subi no palco e li cinco vozes, algumas delas eram deles. Senti que algo do que fiz ali me permitiu me reaproximar deles novamente, ser capaz de reconstruir aquele vínculo, reconstruir aquela família. E eles souberam entender isso, o que também foi importante.