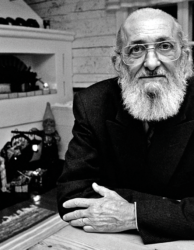Quando o mundo viu-se em pandemia, os intelectuais puseram-se a trabalhar freneticamente. Nunca a filosofia foi tão veloz. Com algum esforço imaginativo, dava para ouvir teclados crepitando sob dedos ansiosos por conferir algum sentido ao imponderável que se apossou da normalidade. A internet inundou-se de análises. Artigos e entrevistas com as mentes mais brilhantes do planeta foram traduzidos para dezenas de línguas em tempo recorde, e nossos olhos sedentos passaram horas navegando em busca de entendimento.
Já sabemos como foi — e como, em alguma medida, continua sendo. Alguns decretaram o começo do fim do capitalismo, festejando a inesperada frenagem da roda destrutiva do sistema: as águas de rios putrefatos clarearam-se; animais selvagens deram a ver seus focinhos em esquinas improváveis; portos e aeroportos foram fechados; a voracidade produtiva arrefeceu. Enquanto certas pessoas comemoravam a concretização do impossível, outras previam o recrudescimento do autoritarismo, que agora encontrara o motivo perfeito para cravar as garras sobre cada um de nossos movimentos: a vigilância e as restrições à liberdade espraiavam-se ao ritmo das medidas de contenção da doença, legitimadas pela ciência; a distopia avançava a passos largos, com as bênçãos de cidadãos apavorados pela ideia de morrer sufocados por um microrganismo desconhecido.
Entre futurologias, temores e asneiras, o que realmente se impôs foi uma imensa incerteza — único sentimento suficientemente honesto diante da novidade virótica e seus efeitos arrasadores. Um ano e meio e quatro milhões de mortos depois, continuamos sem saber para onde a covid-19 levará a humanidade — se é que a levará a algum lugar diferente do qual ela já se encontrava ou se encontra. Até agora, nenhuma previsão, redentora ou catastrófica, acabou por confirmar-se. Seguimos à deriva entre negacionismo, pessimismo econômico, isolamento intermitente, risco constante, taxas flutuantes de mortalidade e contaminação, vacina insuficiente e novas variantes.
Estamos às escuras e, para não ceder completamente às trevas, agarramo-nos ao único ponto de luz ao alcance de nossas mãos: as telas. É exatamente por dedicar-se a elas que A torção dos sentidos se destaca de outras obras filosóficas sobre a pandemia. João Pedro Cachopo construiu uma reflexão em dois tempos. No primeiro, rende uma crítica homenagem aos pensadores que se pronunciaram no calor dos acontecimentos, tecendo comentários perspicazes sobre as ideias que mais circularam nos primeiros meses da pandemia. Depois, distancia-se das especulações sobre o destino do capitalismo para se dedicar à análise de um processo que já vinha se desencadeando muito antes da crise do coronavírus — a revolução digital.
Por isso, afirma, logo no início de A torção dos sentidos: a pandemia não é o acontecimento. Muito mais transcendental que os efeitos causados pela covid-19 são as consequências ainda não totalmente conhecidas de nossa relação com as tecnologias. Sim, esse ”tête-à-tela” acentuou-se com a emergência sanitária, mas não foi por ela ocasionado. É aqui, e não no Sars-CoV-2, nos hospitais ou palácios de governo, que Cachopo enxerga a torção dos sentidos: uma mudança radical em “nossos modos de percepção e de imaginação, de reconhecermos o que é proximidade e o que é distância, presença e ausência, espaço e tempo” — ou seja, nas maneiras pelas quais “as coisas ganham, perdem e definem sentidos para nós no mundo em que estamos”, escreve Pedro Duarte no prefácio a esta edição brasileira.
Cachopo recupera a dicotomia lançada por Umberto Eco nos anos 1960: se o filósofo italiano dividia os intelectuais entre “apocalípticos e integrados” face ao surgimento da cultura de massas, o português vê uma rusga entre “apocalípticos e remediados” diante da atual onipresença das tecnologias digitais. Sua análise é extremamente equilibrada. Por meio dela, consegue enxergar as razões tanto de quem abomina nossa dependência de computadores e celulares como daqueles que agradecem a existência da internet, dos aplicativos e das redes sociais em tempos como estes. Entre uma improvável vida off-line e a hiperconexão acrítica, a pergunta final do livro instiga: o que faremos de nós depois da pandemia? Antes de respondê-la, porém, e caso haja um porvir, é preciso saber quem é esse “nós” e o que podemos fazer para nos salvar — não apenas de novos surtos ou da subordinação tecnológica, mas sobretudo de nós mesmos.