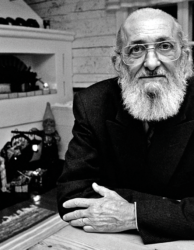Por Breno Castro Alves
@trocavales
Newsletter da Elefante
Quase ninguém antecipou tanta transformação em tão curto espaço de tempo. A crise do coronavírus foi súbita, e fizemos o quê com ela? Uma parte do país fez memes, outra fez gráficos, reportagens e tabelas. Uma infinidade de conteúdo tentando desenhar algum contorno para a crise instalada em nossas vidas, a velha mídia e tudo mais mobilizados para nos responder como e quando nos livraremos da pandemia.
Em meio à sobrecarga de certezas, recorremos à dúvida. Retornamos à filosofia neste A torção dos sentidos: pandemia e remediação digital, uma reflexão dinâmica do português João Pedro Cachopo. O autor, filósofo e musicólogo pela Universidade Nova de Lisboa, identifica como foi a pique o valor da certeza, da promessa de certeza, da esperança de certeza, de qualquer coisa que pudesse assemelhar-se a uma certeza. Toda a atenção voltada para uma única pergunta: quando sairemos da pandemia?
A esse respeito, qualquer coisa que tenha cheiro de certeza será comprada. O medo de não saber, de ainda não saber, de saber tarde demais, grita alto. “A pergunta está assustada. A pergunta impacienta-se, irrita-se com quem pensa noutra coisa e faz novas perguntas. Por fim, não quer aceitar que ainda não haja resposta”, afirma Cachopo, que escreve para gerar desassossego.
Seu prólogo diz nas letras grossas do título que a pandemia não é o acontecimento. Abre com uma negativa impactante como método de semear pulgas atrás das orelhas dos leitores. Funciona: habilmente demonstra a sensação de que nos escapa o que está a acontecer, de que os choques e impactos de nossa quarentena se prolongarão em outros planos, alguns ainda insondáveis.
“A pandemia não é em si mesma o acontecimento. O acontecimento, precipitado pela conjunção de isolamento preventivo e uso exacerbado de tecnologias de remediação, é a torção dos sentidos por meio dos quais nos reconhecemos próximos e distantes de tudo o que nos rodeia.”
É a revolução digital, portanto, o acontecimento. “E é-o, como gostaria de frisar, por meio do seu impacto sobre a faculdade de imaginar” — como escrevem bem, os filósofos.
Ameaçada pela quarentena, enclausurada em seu espaço local, a imaginação é a questão-chave da obra. O autor não tenta opor globalização e localização, reconhece ambas como ameaças que correm paralelas. O que faz é identificar, debater e se posicionar sobre de que formas as restrições à mobilidade geram dinâmica centrípeta, de retorno à pátria, de regresso à casa, de formas que carregam junto parte de nossa potência imaginativa.
Cachopo compreende que essa dinâmica abala os alicerces da imaginação do que está próximo e do que está distante, revolvendo como podemos e desejamos o mundo. É este revolvimento que designa por torção dos sentidos: o acontecimento não é a pandemia, mas o impacto crescente “que o cruzamento entre isolamento profiláctico e uso exacerbado de tecnologias de remediação exerce sobre os sentidos que dão sentido à nossa existência no mundo”.
Aí está, a torção dos sentidos, o simultâneo longe-perto, ter tudo virtualmente ao alcance enquanto se está isolado. Nesta chave podemos recomeçar esse texto para demonstrar como o livro ensaia sobre as transformações que a pandemia nos impõe sobre o amor, o estudo, a arte, a comunidade e a viagem. O autor não considera necessário abordar os cinco sentidos tradicionais — visão, audição, tato, olfato e paladar — por entender que esse sistema permanece inalterado. O abalo que nossa sensibilidade sofreu ocorre no campo da imaginação, não no da percepção.
É por isso que os cinco sentidos selecionados operam dinâmicas de aproximação e distanciamento entre os humanos, dimensões que o autor trata como sentidos, ou seja, formas de alcançar e perceber o mundo. No amor temos a chance de nos encontrar ao mergulhar na alteridade mais minuciosa; enquanto estudar é trilhar com método um caminho rumo ao desconhecido; já a arte é uma jornada sensível rumo ao enigma, rumo à transcendência, com ponto de chegada incerto e vistas incríveis ao longo do caminho; a comunidade consagra as diferenças, estar aí em grupo é estar aberto aos outros; enquanto viajar talvez seja o mais explícito exemplo de aproximação do diferente.
Falaremos do amor, o âmbito mais íntimo, visceralmente prejudicado pela distância física — muitos diriam que impossibilitado. Foi, exatamente por isso, alterado pelas dinâmicas de quarentena. Distanciou os casais que não moram juntos na mesma medida em que aproximou os que moram a uma coabitação sem tréguas.
Pois para a maior parte dos casais as escolhas se reduziram a distância ou proximidade excessiva, com a ressalva de que os olhares não se cruzam nas vídeo-chamadas. É impossível, todos tentamos, mas ou se olha para a câmera ou para a tela, e os olhares não se cruzam. Aceitamos assim mais uma barreira intransponível para a intimidade, remediados, resignados.
Talvez, por outras palavras, o desafio que a pandemia lança aos amantes não seja o de provarem o seu amor, mas o de reinventarem a sua linguagem.
Chegamos então ao subtítulo do livro: pandemia e a remediação digital. Tal remediação é, num primeiro plano, o uso de artifícios do mundo digital tentando compensar o convívio, o corpo e o sabor de que a pandemia nos priva. E, num segundo plano, ela é a reconstrução das relações e dos imaginários a partir dessa nova e quase onipresente mediação digital. Nos resta neste período viver outra experiência da mesma realidade, assumidamente parcial. Um reflexo.
“Trata-se do desafio da imaginação”, avalia Pedro Duarte, professor de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e autor do Prefácio à edição brasileira, onde reconhece a necessidade de buscar nossas formas de amar, viajar, estudar, de fazer ou jogar arte, de viver em comunidade.
“Este livro é um elogio à invenção que a cada vez precisamos fazer da arte do encontro”, conclui Pedro.