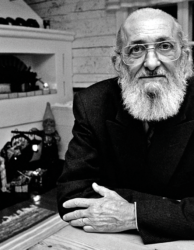Por Jaime Rodrigues
Publicado no prefácio de Vozes afro-atlânticas
Na imagem: Harriet Jacobs
Um prefácio não é espaço para fazer longas digressões sobre pessoas — no caso, a pessoa que escreveu este livro. Mas não posso deixar de dizer uma ou duas palavras sobre Rafael Domingos Oliveira, historiador de quem o leitor assíduo de textos de história decerto ainda vai ouvir falar muitas vezes. Parece-me óbvio que competência, discernimento e capacidade de interagir se encontram em boas doses no autor desta obra. Mas o que é óbvio para mim, que o conheço, não é sabido pelos leitores. Então, vou tentar me explicar melhor.
Afirmei que diria uma ou duas palavras sobre Rafael e já usei uma porção a mais, justo eu que tenho fama de ser econômico nos elogios. Então, é o momento de dizer algo sobre minha relação com ele. Orientei a dissertação de mestrado que deu origem a este livro e, alguns anos antes, pude conviver e aprender com Rafael, enquanto ele se destacava no ambiente formativo que é o curso de graduação em história da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Rafael e outros historiadores de sua geração têm diante de si um desafio grande a cumprir, que é o de explicar o Brasil aos brasileiros em um quadro de incertezas pós-estabilidade. Nunca antes na história deste país havíamos experimentado mais de uma década de busca pela diminuição das desigualdades sociais, tempo que, para a geração que chega agora à idade adulta, pode ter criado a impressão de que as coisas, dali por diante, seguiriam progressivamente. A surpresa foi grande para os que acreditaram nisso e mesmo para os mais incrédulos. Assim, voltar a se interessar pelo passado é uma operação fundamental para explicar o que houve e como podemos desatar esse nó que nos sufoca.
O livro que o leitor tem em mãos habilita Rafael como intérprete. Não do Brasil, que esses já não se forjam mais. As interpretações, nos moldes da prática historiográfica, vinculam- se hoje muito mais às redes, aos grupos e ao diálogo no momento mesmo da sua produção, e não apenas ao talento individual. Para além da pesquisa acadêmica, trabalhar em ambientes diversificados, lidar com o ensino e com um público interessado em história abre a mente e azeita o raciocínio. A nós, historiadores, não basta o domínio do método: temos que nos fazer compreender de forma cada vez mais clara diante de públicos cada vez mais amplos, sob pena de perdermos a guerra de narrativas. Perda que, se vier a acontecer, não será pessoal ou de uma categoria profissional, mas da sociedade como um todo.
Ler este livro em plena guerra de narrativas é um ganho. A escravidão é um tema fundante da história ocidental, algo que ninguém nega ao menos desde que David Brion Davis o afirmou com todas as letras em O problema da escravidão na cultura ocidental, de 1966. Peço desculpas: há, sim, quem negue a importância do tema e, pior, quem negue até mesmo a própria existência da escravização de africanos no Novo Mundo. Para os que acreditam que o assunto ainda não está nem nunca estará esgotado, o livro de Rafael traz novidades; para quem crê que as fake news são as novas pílulas do conhecimento, o livro é ainda mais útil e necessário. Desesperadamente necessário.
Destemido, Rafael selecionou memórias e escritos autobiográficos de africanos escravizados na América publicados em fins do século XVIII e ao longo do século XIX. Essas slaves’ narratives [narrativas de escravizados] raras vezes foram visitadas pelos historiadores, sendo objetos muito mais frequentes da crítica literária anglófona. Temos, aqui, o primeiro desafio: como lidar com uma fonte sobre a qual paira a desconfiança da ficção, da ausência de compromisso com a verdade absoluta? À medida que os historiadores se limitarem à crítica ao positivismo, mas mantiverem a ilusão do acesso à verdade absoluta, estarão em sua zona de conforto. Rafael preferiu encarar o desconforto e tirar sua matéria-prima dessas escritas sobre si. A apropriação do inglês, língua na qual todos esses textos foram escritos originalmente, foi mais um desafio. E outros se seguiram: superar os problemas de acesso, enfrentar os que consideram que o estudo da agência dos homens comuns é pouco para compreender o mundo, conectar o objeto a um projeto de formação de novos sujeitos sociais capazes de atuar em seu mundo amparados pela certeza de que a experiência é uma tradição que se constrói, se herda e se reelabora.
Maduro, Rafael se debruçou sobre as autobiografias de escravizados e trouxe combustível para um assunto tão esmiuçado como a escravidão. A perspectiva radical dos próprios sujeitos que experimentaram o domínio senhorial é enfrentada aqui de modos variados. Terem sido escravizados não define toda a existência desses sujeitos, e essa é a primeira surpresa para quem se inicia no estudo da escravidão: homens, mulheres e crianças africanos tinham uma vida organizada antes da captura. Essa vida continha tudo aquilo que reconhecemos na humanidade, mas que a teologia discriminatória e o racismo biológico negaram: relações sociais complexas, sofisticadas cosmologias, poderes políticos estabelecidos e em disputa, famílias e parentescos, línguas, práticas alimentares. Compreender os sentidos do desmoronamento de tudo isso na vida de milhões de pessoas é essencial para entender o significado da escravidão para além de um sistema de exploração da mão de obra com fins de produção econômica.
Claro que a escravidão explorava compulsoriamente a força de trabalho, mas criar novas nomenclaturas com base na ampliação da produtividade e na vitória inexorável do capitalismo soa cruel para com os que vivenciaram esse processo, se eles forem definidos apenas como números e como seres subjugados. Falharemos como intérpretes do passado se não formos capazes de ouvir as vozes dos que foram silenciados e mesmo assim sobreviveram e deixaram rastros de sua existência em suportes variados, como esses textos estruturados nos cânones da literatura ocidental.
A vida dos africanos não se limitou à escravização e à destruição de suas formas anteriores de organização social. Ultrapassada a experiência marcante da travessia do Atlântico, milhões de vidas foram reinventadas mesmo sob condições terrivelmente adversas. Novas devoções, formações familiares, línguas, novos alimentos: tudo estava por ser feito nas diferentes formas de resistência mobilizadas para a sobrevivência. E sobreviver era a maior resistência, sem mencionar que o aprendizado da narrativa da própria história em moldes compreensíveis aos interlocutores que se pretendia alcançar era uma prova inegável de vitalidade. Seria tolo avaliar que as slaves’ narratives cumpriam apenas o papel de propaganda política útil aos interesses dos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos e na Inglaterra oitocentistas. Ademais, os escravizados e libertos engajados nesses movimentos tinham interesses convergentes, o que significa que a definição de quem usava quem precisa ser feita com vagar e sensibilidade.
Ao narrar suas memórias, gente como Harriet Jacobs, Mahommah Baquaqua, Ottobah Cugoano e Olaudah Equiano deixou pistas para afirmarmos que não há formas ingênuas de reconstruir o passado. Narrativa e militância fazem parte dos jogos da memória, e ao historiador bem disposto não resta opção exceto enfrentar esses jogos com as ferramentas do método.
Rafael se saiu bem por várias razões. Ele domina o método e está consciente das sutilezas, das diferenças e dos eventuais antagonismos entre memória e história. Conhece a historiografia sobre a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, bem como as perspectivas renovadas trazidas pela concepção do Atlântico como espaço histórico. Enfrentou uma temporalidade alongada e repleta de especificidades e soube escolher os temas que nortearam os capítulos de seu livro. Ele não se deixou intimidar pela fonte inusitada no ambiente dos historiadores profissionais no Brasil e encarou assuntos sobre os quais autores abalizados pareciam já haver dito tudo, como é o caso dos significados da liberdade para quem os construiu. Enfrentar esses desafios são a prova de maturidade intelectual que Rafael nos dá. Se essa prova serve para habilitá-lo no ofício, o livro também traz ao leitor uma escrita fina, bem construída e prazerosa. Os maus escritores que me perdoem, mas escrever bem é tarefa da qual o historiador não deve descuidar.
Leitor, adentre sem medo, que o livro é bonito demais!