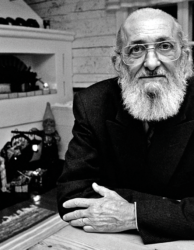Por Cristina Wissenbach
Na ocasião do debate sobre Vozes afro-atlânticas realizado em 12/03/22
Para dar conta da minha participação no evento de lançamento da obra de Rafael Domingos Oliveira, Vozes afro-atlânticas, reúno em torno dela um tanto de livros, autoras e autores em busca de inspiração. Entre eles, localizei em Quotidiano e poder, de Maria Odila da Silva Dias, publicado em 1984, o prefácio de Ecléa Bosi, intitulado “As outras testemunhas”. No texto, ela diz ter se deparado, na cidade do século XIX descrita pela historiadora, com as caçadoras furtivas do quotidiano:
“Aí, nesses telheiros e porões, nessas brenhas domésticas, estas sombras se escondem, tapam o rosto com as mãos e fogem. / Não confiam nos historiadores, nem em quem delas se aproxima revestido com as insígnias do poder. / Mas vamo-nos sentar à beira do poço, erguer do chão um caco de louça esquecida, esperar … no terreno agreste, quem sabe ouvir uma bulha de passos que volta, a roupa batendo na tábua, a colher no tacho, um lamento, uma canção talvez. / Refazer sua história não requer uma competência abstrata para lidar com o passado, mas uma evocação semelhante à evocação religiosa, ou melhor, uma invocação” (Bosi apud Dias, p. 7-8)
O encontro sensível entre as “lembranças de velhos” de Ecléa Bosi (1979) e as vidas documentadas das caçadoras furtivas do cotidiano de Maria Odila (1984) nos remete à difícil tarefa de recuperar as vozes do passado. Os testemunhos, sobretudo dos marginalizados do poder, das minorias, das mulheres pobres, das escravizadas e dos escravizados encontram-se na maior parte das vezes submersos em camadas e camadas de silenciamento. Uma parte disso provém do pouco interesse em registrar histórias ordinárias de pessoas comuns, mas outra parte vem do obliteramento de temas sensíveis de um passado que, muitas vezes, é melhor deixar para lá.
Memórias perturbadoras e incômodas, memórias subterrâneas que são trazidas à tona e subvertem o silêncio, às vezes pouco a pouco, outras vezes aflorando “em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados” (Pollak, 1983, p.4), a partir do árduo trabalho e comprometimento de estudiosos e estudiosas
Tal como em outros contextos que envolveram regimes de opressão e de extrema violência, silenciar sobre as experiências do passado foi postura compartilhada tanto pelos senhores de escravos e seus descendentes, como usada pelos cativos e pelas populações que deles se originaram. Se, de um lado, sempre foi melhor falar da prataria francesa das fazendas do Vale do Paraíba, por outro, o silêncio foi estratégia dos que preferiram se manter nos lugares do escondido, exatamente para não serem vistos, à espreita e fugindo dos olhares do domínio e da repressão.
Memórias imobilizadas nos cantos e nos becos, na oralidade do mundo das populações despossuídas que preferiam sussurrar e ficar nas sombras.
Em 1912, o viajante e padre Louis Gaffre, em visita ao interior de São Paulo, registrou:
“A velha negra nos recebeu muito bem; sua grande face redonda não anuncia à primeira vista as experiências desastrosas dos longos anos de servidão; mas foi em vão que eu tentei fazê-la falar sobre os velhos tempos, sobre a condição dos escravos, sobre a conduta dos senhores. A velha mulher dissimulava atrás de um grande sorriso de dentes sempre brancos uma espécie de reserva que não me permitia lhe arrancar a não ser fragmentos de conversa. (Gaffre, apud Wissenbach, 2018, p. 31)
O livro de Rafael Domingos Oliveira integra uma produção historiográfica que buscou romper com os silêncios, recuperando fragmentos das histórias dos dominados e dominadas a partir dos relatos feitos por elas e eles. Particularmente na história da escravidão no Brasil e nas Américas, seu trabalho se insere na esteia de estudiosos que recontam a história sob outras perspectivas e iluminam a feição multifacetada de processos de dominação e resistência. Nesse conjunto, para “amplificar as vozes afro-atlânticas”, como ele próprio escreve, os esforços de pesquisa foram e têm sido intensos: desde o manuseio de coleções e coleções de fontes primárias, processos criminais, relatórios oficiais, inventários e testamentos, chegando às narrativas autobiográficas tais como as que aqui se apresentam, e à eleição de episódios históricos que pudessem deixar a mostra desejos, expectativas e experiências múltiplas de resistência e resiliência alimentadas por visões de mundo singulares. Fontes fragmentadas, localizadas em diferentes acervos e suportes documentais que, reunidas, permitem remontar trajetórias de vidas nas contingências da escravidão e depois no exercício da liberdade. Homens e mulheres com o Alufá Rufino, Benedita da Ilha, Domingos Alvares, Rosalie, Teodora da Cunha Dias, aos quais se somam agora Sojourner Truth, Baquaqua, Olaudah Equiano, Harriet Jacobs e tantos outros e outras trazidos pelo livro e ainda pouco conhecidos do público leitor brasileiro.
Em Vozes afro-atlânticas, o historiador analisa um extenso conjunto de textos cuja propriedade maior é o fato de serem de autoria daqueles que ousaram falar, ditar e escrever. Documentos históricos de grande complexidade, a partir de um escrutínio metodológico minucioso, o livro traz detalhes do contexto da produção e da recepção destas memórias afro-diaspóricas, a relação com o público leitor, para depois aprofundar seus sentidos nas experiências dos que viveram o tráfico, a escravidão e a conquista da liberdade. Não se limita aos seus conteúdos, mas pensa o gênero autobiográfico – aquele nascido nas ricas salas da burguesia, dos homens e das mulheres de elite inflados pelo individualismo – nas inflexões da vida dos escravizados, produzidos nas implicações severas do racismo e lidando com a desconfiança que cercou qualquer tipo de autonomia e agência exercida por estes setores sociais.
No capítulo intitulado “A produção social das autobiografias de escravizados e libertos” (p. 55-92) demonstra que, se para a elite a escrita sobre trajetórias de vida era bem-vinda e prescindia de legitimidade, nos casos dos autores e autoras negros e negras, a autenticidade estava sempre posta em questão, a veracidade dos testemunhos deveria ser endossada no prefácio ou na coautoria de um patrono branco, e seu valor criativo e literário era quase sempre minimizado. No mundo da escravidão e do pós-emancipação, a escrita de si e a subjetivação de escravizados e de libertos vinham conformadas a partir de outros elementos históricos e eram vistas com suspeição.
Apesar disso, aqui estão elas, abundantes, instigantes e muitas vezes trilhando caminhos outros, não canônicos, inesperados. E, como mostra o autor, fazendo sucesso no mercado editorial da época, ou pelo menos entre aqueles mais esclarecidos.
Além de trazer a contribuição do contato com um material pouco conhecido no Brasil, a coleção das narrativas que Rafael Domingos Oliveira nos oferece, apresenta traços que conformam sua historicidade. Localizadas no tempo e no espaço, uma parte das narrativas diz respeito à denúncia das condições de vida e de trabalho na escravidão, às relações entre pares, com senhores e prepostos, aos castigos e à fuga em busca da liberdade. Mas outra, está relacionada às dinâmicas do abolicionismo nos Estados Unidos, integrada nas lutas pelos direitos civis dos negros, movimentos estes que retiram parte de suas matrizes de pensamento e de atuação dos relatos daqueles que sofreram as dores e as contingências da escravização.
Homens e mulheres públicos, sujeitos políticos – e é essa uma das premissas centrais do livro — capazes de adentrar as reuniões e impor suas visões.
“E eu não uma mulher?” indagava Sojourner Truth para a audiência misógina e hostil, a quem reclamava os termos de sua condição feminina, pensada nas intersecções entre classe, gênero e raça. Em distintas temporalidades, podemos vê-la como uma ex-escrava que viveu nos meados do século XIX e inaugurou direções que inspiram, até o dia de hoje, a luta das mulheres negras (Ribeiro, 2017, p. 19-26). Mas também, o confronto com o patriarcalismo de base escravista que encontramos nas cartas de Teodora da Cunha Dias, da mesma época, ao reclamar o compromisso de seus protetores/algozes com as estratégias que ela descortinou para seu projeto amplo de liberdade e de retorno à África: o escriba Claro Antônio dos Santos, seu marido senhor Luís e seu senhor, o Conego Terra. Mas reivindicações articuladas a sua visão de mundo centro-africana fortalecida pela parceria ancestral – “essa Conga que fala comigo diz que se eu morrer aqui morrerei que nem eu eu só”. (Wissenbach, 2012, p. 232) Imagino o impacto desta frase sobre os que tiveram a oportunidade de ler: o senhor de Teodora, o delegado de polícia, e quem sabe Luís Gama, escrivão da delegacia de São Paulo, à época do inquérito de 1867/68.
Pensar os agentes históricos para além do conceito de morte social, pressupõe sensibilidade histórica dos que se colocam ao lado de seus depoentes, numa escuta que demanda não só o senta-se ao lado, catar cerâmicas no chão e aguardar, como diz Ecléa Bosi, como também aderir ao inesperado, aos movimentos do cotidiano e entender circunstâncias e visões de mundo particulares, como ensina Maria Odila da Silva Dias. Entre outras questões, fugindo ao normativo e aos lugares sociais prescritos, a liberdade por eles e por elas concebida, e as escolhas feitas para o seu exercício, nem sempre foram aquelas pensadas a partir dos valores burgueses e liberais. No caso do Brasil, no dia seguinte ao 13 de maio, para a parcela dos ex-escravizados, que saia dos domínios senhoriais e junto aos festejos, ser livre implicava principalmente o direito de ir e vir, mas também a posse de determinados objetos: chapéus, guarda-chuvas, lápis e papel, e em especial sapatos, que passavam a ostentar como símbolos da liberdade conquistada.
É claro que muitas vezes, abrir-se aos caminhos do inesperado pode significar defrontar-se com as nossas próprias incertezas, temores e limitações. Como escreve Rafael Domingos Oliveira, num raciocínio próprio à hermenêutica, realizar a pesquisa e a escrita do livro foram experiências pessoais e de ofício árduas (p. 28). Ler os depoimentos e entrar em contato com essas vidas pregressas – marcadas pela violência, pelas rupturas e contingências amargas da escravidão — só se tornou possível, escreve ele, quando seu olhar como historiador se lançou ao devir. Ou só terá sentido quando se procura ecoar essas vozes afro-atlânticas para serem ouvidas no presente.
Lembro que, por algum tempo, fugi da publicação do livro resultado de minha pesquisa de mestrado. Certo dia em conversa com um amigo querido, no bar do prédio da História, confessei que isso poderia desnudar aflições – as mais íntimas. Ao dizer isso, sabia exatamente a que partes do trabalho eu me referia – trechos em que a voz das mulheres escravizadas e forras se misturavam com a minha própria. As maneiras ambíguas de lidar com as figuras do patriarcado – como protetores, aliados e algozes – que encontrava nas cartas de Teodora da Cunha Dias e nos testemunhos deixados pelas mulheres africanas e crioulas eram partes constitutivas das questões presentes na afirmação das mulheres nas décadas de 1980 e 1990.
Num inquérito realizado em 1869, Francisco Cabinda, justificava a violência praticada contra sua mulher como meio de corrigir seus comportamentos “não adequados”:
“Voltando no final de semana”, ele depunha, “não encontrou sua mulher e aparecendo ela pouco depois, o interrogado a repreendeu, dizendo-lhe que não era regular seu procedimento visto que ele tinha alugado casa para sua morada; ao que lhe respondeu a ofendida que ele não a governava porque ela era forra”. (Wissenbach, 1989, p. 144)
Para ela e tantas outras, a vivência da liberdade passava, acima de tudo, pelo reconhecimento de sua humanidade, pelo direito à livre escolha de sociabilidades; pela expressão de cosmovisões singulares; pela existência de permanências africanas na maneira de conceber a escravidão e a liberdade que o tráfico e os tumbeiros não conseguiram eliminar.
São estas as ponderações que faço quando penso nas interseções entre minha trajetória como historiadora e pesquisadora e a experiência da leitura e a escuta das belíssimas Vozes afro-atlânticas. Saúdo o jovem historiador que nos brinda não só com o seu evidente e apaixonado compromisso ético com tema e sujeitos, como também nos traz um material que fazia falta há muito tempo.
Parabenizo também a editora Elefante, pela linda edição, ressaltando também as imagens e a expressiva capa de Aline Bispo, que vai se tornando marca registrada da produção acadêmica e literária comprometida com as histórias afro-diaspóricas.
Referências
- Bosi, Ecléa. Memória e sociedade – lembranças de velhos. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 1979.
- Dias, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Editora Brasiliense, 2ª. edição, 2001 [1984].
- Pollak, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 2, 3, 1983, 3-15.
- Ribeiro, Djamila. O que é lugar de fala. São Paulo; Pólen; Suely Carneiro, 2019 (3. Reimpressão).
- Wissenbach, M. Cristina Cortez. Práticas religiosas, errância e vida cotidiana no Brasil (finais do século XIX e inícios do XX). São Paulo> Intermeios; Entr(História), 2018.
- Wissenbach, M. Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas. Escravos e forros em São Paulo (1850-1880). São Paulo: Hucitec; História Social USP, 1998.
- Wissenbach, M. Cristina Cortez. Teodora da Cunha Dias. Construindo um lugar para si no mundo da escrita e da escravidão. In: Giovana Xavier et al. Mulheres negras no Brasil escravista e do pós-emancipação. Rio de Janeiro: Selo Negro, 2012.